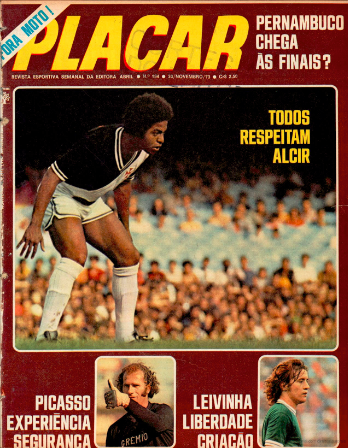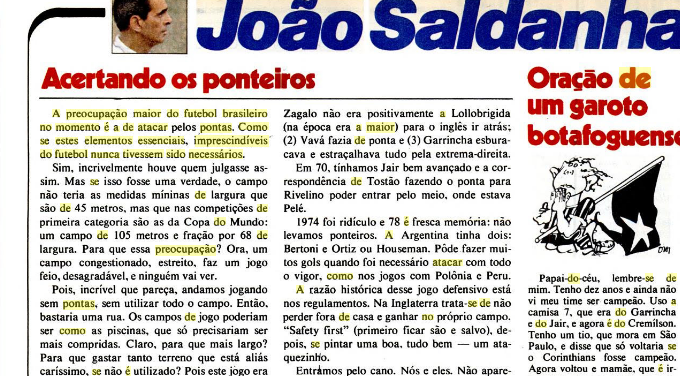:::::::: por Paulo Cezar Caju ::::::::
Minhas estreias sempre foram marcantes. Em todas, aquele friozinho na barriga e o desejo de entrar logo em campo. Em 67, pelo Botafogo, primeira vez no Maracanã, marquei os três gols da vitória contra o América, na final da Taça Guanabara. Aquele momento ainda está congelado em minha memória. Cinco anos depois, estreava pelo Flamengo, também no Maraca, no Torneio de Verão, enfrentando o Santos, de Pelé, e o Benfica, de Eusébio. O Fla tinha Renato, Moreira, Chiquinho, meu irmão Fred, Reyes, Rogério, Fio, Caio Cambalhota e Arílson. Fomos campeões! Em 74, me mandei para o Olympique de Marselha e fiz o gol da vitória contra o Strasbourg. Não falava a língua, não conhecia ninguém e fomos vice-campeões. Aí, em 76, o Horta me trouxe para integrar a Máquina Tricolor. A estreia foi no maior do mundo contra o poderoso Bayern de Munique, base da seleção alemã, e vencemos por 1×0, com show de Cafuringa e Mário Sérgio. Da Máquina para o Time do Camburão, no Botafogo, com Rodrigues Neto espanando e os delegados Hélio Vígio e Luís Mariano, na comissão técnica. Ficamos 52 jogos invictos. Depois teve Grêmio, Vasco e, claro a seleção brasileira. Aos 17 anos, fui convocado por Zagallo para um jogo contra o Chile, em Santiago. Vencemos por 1×0, gol de Roberto Miranda. O curioso era que essa seleção era formada apenas por jogadores do Bangu, campeão de 66 e Botafogo, de 67, e o chefe da deleção foi Castor de Andrade, que reprovou o hotel escolhido pela federação chilena e, com dinheiro do próprio bolso, nos levou para o melhor da região, Kkkk!!!
Fora de campo, trabalhei no Pasquim, Diário de SP e, recentemente, Globo, mas a Placar é aquele time em que todos sonham jogar. E eu nem teria motivos para sonhar porque apanhei muito dos cronistas paulistas, Kkkk!!! Minha relação com São Paulo sempre foi de amor e ódio. Era vaiado quando chegava ao Aeroporto de Congonhas e rebatia dizendo que não gostava da cidade, suja e poluída. Fui contratado pelo Corinthians, mas odiei e apesar de me dar muito bem com Sócrates, não me encaixei com a filosofia da Democracia Corinthiana, até porque eu adorava treinar, Kkkk!!! Anos depois, comprei um apartamento, no Morumbi, onde morei 20 anos com minha mulher, Ana Reis, e, hoje, amo esse estado. Estive em várias capas da Placar e em incontáveis matérias, ganhei quatro Bolas de Prata, mas nunca entendi não ter levado uma de Ouro. Sempre colecionei Placar, El Gráfico, France Football e L´Équipe. Se eu não fosse o Caju, negão marrento, 70 anos de praia, talvez eu falasse aos leitores da Placar que “vou dar o meu máximo”, “seguir as orientações do professor” e “lutar pelos três pontos”, mas prefiro dizer que chego para falar de futebol na linguagem do boleiro, sem esse discurso professoral que tomou conta do futebol e o deixa cada vez mais chato, chego para zunir os quadros-negros e as pranchetas da sala e falar de futebol-arte, de pelada, de sonhos, de memória, personagens e jogos inesquecíveis. E a Placar está na memória afetiva dos amantes do futebol. Que esse jogo desperte a chama adormecida do torcedor e dure para sempre! Viva a Placar!