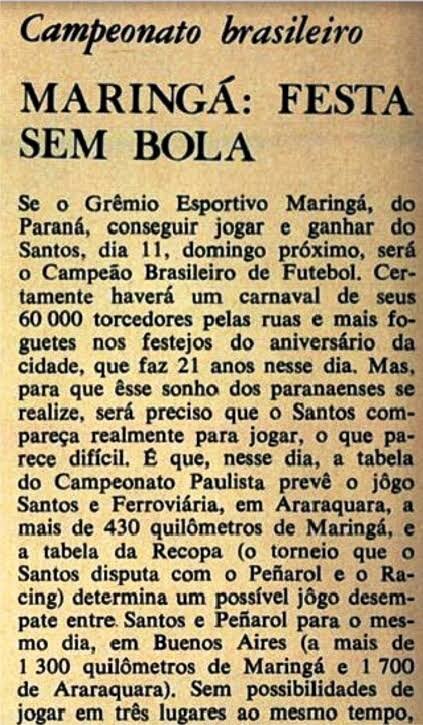Nascido em fevereiro de 1973 em São Paulo, na cidade do interior de Capivari – a mesma da pintora modernista Tarsila do Amaral (1886-1973) – Alexandre da Silva Mariano escondeu por trás do sorriso a vida difícil que teve na infância.
Conhecido pelo riso solto, pelas anedotas e pela ptose – enfermidade muscular mais conhecida como pálpebra caída – ganhou rapidamente o apelido de Amaral, dado pelo avô Ditinho e ‘coveiro’, embora fosse agente funerário antes de virar jogador de futebol.
Operário em campo como se define e era definido pelos técnicos, o volante de marcação obstinada, muito fôlego e velocidade, começou a morder tornozelos nas categorias de base do Palmeiras e, a partir de 1991, ganhou espaço entre os profissionais.
Incansável dentro das quatro linhas e querido pelos companheiros de time por seu jeito bondoso, ingênuo e engraçado, o camisa 8 se tornou figura importantíssima de um dos Palmeiras mais fortes de toda a história, onde sagrou-se campeão paulista em 1993, 1994 e 1996 e bicampeão brasileiro no mesmo período.
Mesmo com suas limitações técnicas foi convocado para a seleção brasileira – com a qual ganhou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 1996 – e se transferiu para o Parma, enfrentando um desafio tão grande quanto e de enterrar seu pai quando era agente funerário.
Multicampeão pelas andanças mundo afora, enfrentou o racismo com bom humor na Polônia, onde atuou pelo Pogoń Szczecin, entre 2006 e 2007.
“Jogar na Polônia foi complicado. Certa vez fomos disputar um jogo e a torcida jogou mais de 30 bananas na gente. Eu não ligo porque acho que a melhor resposta para um ignorante é o silêncio. Peguei a banana, comi, e falei que ela estava aguada e eles jogaram uma banana mais doce. Acabou o jogo, fomos para a delegacia para depor. Tínhamos um tradutor, e como eu levo tudo na esportiva, falava: pô, jogaram a banana e não era banana nanica, não era banana maçã, era uma banana estranha, amarga, que amargava nossa boca”, lembrou.
Passou ainda por Corinthians e Vasco, antes de voltar à Europa mais maduro, com 27 anos e assinou com a Fiorentina, que vinha com problemas financeiros e montava um time mais modesto que em anos anteriores.
Rodou ainda por outros clubes em diferentes países e veio a encerrar a carreira no Capivariano Futebol Clube, em sua cidade natal, no ano de 2015.
O Museu da Pelada conversou por telefone com Amaral, nosso décimo terceiro personagem da série Vozes da Bola.
por Marcos Vinicius Cabral
Você teve um começo de vida difícil. Quais as lembranças que têm dessa época?
Eu nasci na cidade de Capivari, sou capivarano e tenho muito orgulho disso. Em qualquer lugar que eu vou carregar, faço questão de carregar a bandeira da minha cidade. Realmente, meu início foi muito triste, com muita dificuldade e vou falar para você a verdade, eu nunca pensei em ser jogador de futebol, por incrível que possa parecer. Mas Deus falou assim:”Se você sofreu muito na barriga da sua mãe, agora vai sofrer mais um pouco na Terra, para depois, aí sim, eu te exaltar”. Foi um início muito triste, infância difícil, onde cheguei a passar fome. No entanto, resumindo para não prolongar essa triste lembrança na entrevista, tive essa experiência, ou melhor, um fato que marcou muito a minha vida que foi enterrar meu próprio pai, já que eu trabalhava na funerária. Foi um choque muito grande para mim e acho que tudo que eu passei na minha vida e principalmente na infância, acho que Deus permitiu que eu fosse criando um alicerce para quando chegar os baques da vida eu estivesse preparado para não esmurecer. Acho que tudo que aconteceu na minha vida foi um aprendizado.
Nascido Alexandre da Silva Mariano, como surgiu o apelido de Amaral?
Hoje sou palmeirense em São Paulo e vascaíno no Rio de Janeiro, mas na infância, quando era corintiano e muito escurinho, seu Ditinho, meu avô, me chamava de Amaral por causa do Amaral que era zagueiro e jogou na seleção brasileira em 1978. No futebol, eu cheguei como Amaral mas na verdade, queria ter chegado como Alexandre, e aí, quando eu falava para o pessoal, eles falavam para mim:”Pô, Alexandre é nome muito forte, pois Alexandre, o Grande, era um jovem príncipe que sucedeu a seu pai, o Rei Filipe II, no trono com vinte anos de idade”, e eu, era todo pequeninho, então, fiquei como Amaral mesmo. Hoje algumas pessoas me chamam de Amaral, outras de Amaralzinho e ficou registrado como Amaral. Depois surgiu outros ‘Amarais’ por causa de mim e eu surgi em razão do Amaral da seleção brasileira.
Como surgiu o Palmeiras na sua vida?
Por meio de um primo meu chamado Osnir, pois ele tinha amizade com o ex-presidente Carlos Facchina, (presidiu o Palmeiras no triênio de 1989 a 1992). Segundo esse meu primo, ele fez um favor para o ex-presidente e pediu em troca um teste para eu fazer no clube, onde o Dr. Facchina me indicou por meio de uma carta escrita de próprio punho. Fui lá, apresentei a manuscrito dele, fiz o teste em 1992, fui aprovado e me tornei jogador profissional pela Sociedade Esportiva Palmeiras.
O Amaral sempre foi um jogador operário e que todo treinador gostaria de ter em seu time. Mas de todos eles, na sua opinião, qual foi o melhor com quem você trabalhou?
É verdade, eu sempre me dei bem com os treinadores, porque segundo eles, eu era operário mesmo. Mas teve um que eu gostei muito de ter trabalhado e que me ajudou bastante quando estava no Benfica-POR, onde ele fez eu resgatar o meu trabalho, e chama-se Paulo Autuori. Eu lembro que cheguei do Parma-ITA desacreditado no Benfica-POR, fiz um campeonato magnífico e os torcedores queriam que eu ficasse, mas o clube não tinha dinheiro para me comprar. Então, reafirmo que adorei ter trabalhado com ele, era um treinador sereno, manso, que sabia se expressar na hora certa, deixava o jogador à vontade e dava confiança, o que é o mais importante na carreira de um atleta.
O Amaral teve ou tem algum ídolo no futebol?
Eu vou na contramão daqueles que dizem ter esse ou aquele jogador como ídolo, me desculpe. Sempre fui um cara que nunca tive um ídolo, minto, tenho um sim: Jesus! Esse é o meu verdadeiro ídolo. Mas no futebol eu nunca admirei ninguém e sempre olhei para dentro de mim mesmo e acho que o meu ídolo é Jesus. Mas se for para escolher um jogador, por tudo que passou, pelos obstáculos que enfrentou para chegar onde chegou, esse jogador seria Amaral, ou seja, eu mesmo. Não sou um craque, sei disso, sou um jogador normal como tantos outros e graças a minha simplicidade e humildade, sempre joguei com os melhores e em muitos jogos, no fim das partidas, fui considerado o melhor entre os melhores pela minha vontade de vencer e aplicação.
Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?
Triste como todo mundo. Nesses dias estranhos e tão difíceis, não só para mim mas para todo mundo, a gente não queria estar nessa situação, mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é ter arroz e feijão em nossas mesas e sabemos que existem pessoas que não têm condições de ter isso. Mas hoje, minha renda vem dos eventos e todos foram cancelados. Mas o mais importante é estar vivo, com saúde e esperar o tempo determinado por Deus para as coisas voltarem ao normal, pois isso ocorrendo, voltaremos a alegrar as pessoas com nosso trabalho.
Qual o momento inesquecível para você na carreira?
Tenho alguns e gosto de lembrar deles, mas os especiais foram quando assinei meu primeiro contrato no Palmeiras, o primeiro título de juniores em 1989, conquista que o clube não ganhava desde 1963, ou seja, há 26 anos, e o campeonato paulista de 1993, já no profissional, o Verdão não conquistava desde 1976. Esses foram os melhores momentos que passei na minha vida de jogador no Palmeiras.
E o momento a ser esquecido?
Difícil cara. Mas os Jogos Olímpicos de 96, em Atlanta. É, foi o momento mais triste, pois tínhamos condições de ganhar uma medalha de ouro e ficamos com a de bronze, onde muitos jogadores falam:”Pô, você ganhar uma medalha numa Olimpíada é gratificante”, mas não temos costume de ganhar o terceiro lugar e sim o primeiro. Mas foi um momento que marcou de verdade e todo mundo fala da Nigéria, a campeã, uma equipe magnífica e que se a gente ganhasse deles, a final seria histórica contra a Argentina. Vale relembrar que havíamos conquistado o Torneio Pré-Olímpico sul-americano de futebol, ao empatar em 2 a 2 com a Argentina, em Mar del Plata, e se o ouro fosse nosso ali, ia ser uma coisa muito legal, já que a seleção de 96, seria a base do Brasil na Copa do Mundo da França, em 98. Mas como não fomos campeões em 96, alguns jogadores como Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo permaneceram, e os demais, acabaram sendo trocados.
Sabemos que no meio do futebol existe muita trairagem. Mas quem é o seu melhor amigo?
Sinceramente falando, eu não tenho um inimigo no futebol e até os jogadores com quem eu não joguei, se tornaram meus melhores amigos. Por isso, é difícil falar um nome e todos os jogadores brasileiros com quem eu joguei na minha época são os melhores amigos. Tenho por todos uma grande amizade. Mas não vou falar um e sim alguns, como Marcos Assunção e o Éverton, que eu joguei pouco com ele, são dois caras que me ajudaram muito. Teve o Edmilson, Denílson, Neto, Rivaldo, Marcelinho Carioca, Edmundo, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Romário, Flávio Conceição, Sérgio, Marcos, Veloso, Odvan, Paulo Miranda, Tinga… e por aí vai.
O Dia Nacional do Futebol foi comemorado no dia 19 de julho. O que esse esporte representou na sua vida?
Eu nem sabia que o 19 de julho foi o Dia Nacional do Futebol, mas esse esporte representou muitas coisas na minha vida. Por causa do futebol, graças a Deus não passo fome, estou podendo dar essa entrevista para vocês do Museu da Pelada, sou convidado a ir em vários programas de televisão, fui convidado para fazer A Fazenda 8 em 2015, fazer o filme Os Parças 2, em 2017 e fazer o Dancing Brasil, reality show comandado por Xuxa na Record, em 2018. Então, agradeço a Deus em primeiro lugar, depois a dona Rosária, minha mãe, hoje com 66 anos, por ter me colocado no mundo e ao futebol que abriu as portas para eu conhecer o mundo.
Você acha que aquele drible que o Romário deu em você em um Corinthians x Flamengo, no Pacaembu, te marcou e o fez ser reconhecido?
Não, muito pelo contrário. Eu acho que fiquei famoso no futebol pela minha garra, minha aplicação em campo, minha vontade de vencer… mas é claro que você levar um drible te deixa marcado. Quando eu levei o elástico do Romário, eu já era conhecido, e fiquei mais conhecido ainda (risos), mas já havia chegado à seleção brasileira, era campeão brasileiro e paulista e com uma bagagem na Europa. Mas esse lance ficou marcado onde as pessoas lembram bastante do Romário pelo elástico que ele deu em cima de mim sim, sem dúvida. E na boa, te confesso: sou grato ao baixinho por ter me dado esse drible, porque os anos passam e as pessoas não esquecem, além é claro, de tomar um drible marcante de um gênio como Romário, para mim é, do fundo do meu coração, motivo de orgulho.
O racismo machuca e é um assunto recorrente no esporte. Você viveu episódios marcantes, não foi?
Já sofri muito por causa disso. No Pogoń Szczecin, time da Polônia onde joguei entre 2006 e 2007, era frequente, mas passei também em Porto Alegre. Mas antigamente, nós jogadores, ignorávamos muito. Tem uma frase de um autor desconhecido que ilustra muito isso que é “O silêncio é a única resposta que deves dar aos tolos. Porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites”, então, eu nunca me importei com as pessoas me chamando de macaco e nem jogando banana no campo, pois quando jogavam, eu ia pegando as bananas e comendo e quando estava aguada eu reclamava que poderiam jogar uma banana mais doce. Essa era a forma que eu encontrava para essas situações e sempre ignorei isso aí. Nunca dei muito valor aos ignorantes que se acham no direito de nos comparar com um macaco.
Quem foi o jogador mais difícil que você marcou?
Na verdade foram dois, que tive muita dificuldade em marcar: o Zidane e o falecido Denner. Com o craque da França, tem um fato até engraçado que em um jogo beneficente, o Amigos do Ronaldo x Amigos do Zidane, na Arena do Grêmio, em 2012, na primeira bola que o Zizou pegou, já dei uma ajuntada nele e ele virou para mim e disse: “Pô, Ama (como era chamado na Itália) isso aqui é um amistoso, não é Fiorentina-ITA e Juventus-ITA” (risos). Aí eu disse:”Vai que tem alguém aqui vendo o jogo na arquibancada e me vê te marcar, já saio daqui contratado?”, (risos). Mas brincadeiras à parte, o Zidane era um grande jogador, um cara que tenho uma enorme admiração por suas conquistas como jogador e treinador. Mas sempre foi muito difícil marcá-lo. Já o Dener foi outro jogador difícil que eu marquei no futebol. Eu tinha muita dificuldade em marcá-lo, e lembro que era minha primeira partida como profissional e me levaram para ver a fita-cassete dele. Eu vi e percebi que não seria fácil. Mas graças a Deus me sai muito bem, mas ele foi o jogador mais difícil de se marcar e o que mais me deu pesadelo na hora de dormir quando eu ia enfrentá-lo. Mais do que o Zidane. O Dener tinha as pernas fininhas e tortas e você não sabia se ele ia cortar para a esquerda ou para a direita e do nada ele ia pelo meio, além de ser muito rápido. Portanto, Zidane e Dener foram os mais difíceis que eu marquei, mas garanto: o Dener foi o mais difícil que eu marquei.
Você vestiu a camisa do Palmeiras em 244 partidas e marcou apenas um gol contra o Grêmio em um jogo na Libertadores. O que acha disso?
Eu fui um jogador que nunca fiz muitos gols na minha carreira, não me preocupava em fazer gols. Meu negócio era marcar e fazer os meias e atacantes jogarem. Às vezes saia um gol e eu ia comemorar e os companheiros falavam:”Pô, Amaral, volta correndo que você não pode nem comemorar, recupera o fôlego indo para o meio de campo”, (risos). E quando eu fiz o gol, não deu para comemorar direito porque os caras me falaram que eu veria esse gol em casa. Eu fiquei muito feliz com esse gol com a camisa do Palmeiras, e foi uma pena a gente não ter conseguido classificar naquele jogo histórico contra o Grêmio, nas quartas de final das Libertadores, em 1995. E foi engraçado que quando cheguei em casa para ver o gol, o Galvão Bueno errou meu nome na narração e me chamou de Paulo Isidoro. Ou seja, Galvão Bueno confundiu, falou Paulo Isidoro (risos).O Galvão Bueno corrigiu a narração do meu gol de Amaral, e eu vibrei no Bem, Amigos. A produção do programa então separou as imagens do lance, que foi narrado corretamente por ele 23 anos depois. Mas brincadeiras à parte, foi um momento magnífico na minha vida e depois daquele gol os times começaram a me enxergar e acabei rodando o mundo.
Você não foi bem em sua primeira passagem na Itália, mas mesmo atuando poucas vezes no Parma, sagrou-se campeão da Copa da UEFA, jogando ao lado de craques como Gianluigi Buffon, Lilian Thuram, Hernán Crespo e Tomas Brolin. Já na segunda…
Minha primeira passagem na Itália foi muito difícil, porque eu nunca tinha saído da minha cidade Capivari e fui para uma cidade totalmente diferente, uma língua que não entendia, comia macarrão todo dia, enquanto no Brasil se come apenas aos domingos, mas o bom foi que fiz várias amizades. Inclusive joguei algumas partidas da Copa UEFA e é legal, como você mencionou na pergunta, que fui campeão da Copa UEFA e como joguei algumas partidas, me considero campeão mesmo e nem sabia que eu tinha esse título (risos). Lembro da amizade com o Canavarro, encontrei um treinador que me ajudou muito que foi o Carlo Ancelotti, só que eu não tive paciência de esperar a minha chance na Itália e como estava no mercado, queria jogar, não aceitava ficar no banco e acabei pedindo para ir embora do Parma-ITA. Então, primeira passagem minha não foi muito boa, mas a segunda já foi melhor onde me consagrei campeão da Copa Itália, que é um título que eu carrego com muito orgulho e os italianos até hoje falam comigo, me mandam mensagens pela marca que eu deixei lá na Fiorentina-ITA. Para mim frente foi muito especial, já que eu joguei duas partidas finais, pois não joguei no decorrer do campeonato porque estava me recuperando de uma lesão no ligamento cruzado do joelho, e na hora de partir o bolo, eu joguei e para você ver, Deus às vezes, tem aquela palavra que os humilhados serão exaltados. Passei pela mesma humilhação no Parma-ITA, mas faltou um pouco de paciência comigo em me espera um pouco mais, para eu me adaptar e ao não me adaptar, acabei sendo emprestado, e depois não quis voltar. Mas Deus escreveu certo em linhas tortas e preparou minha volta em ser campeão em cima do Parma-ITA, onde consegui provar o meu valor.
O Maracanã completou 70 anos recentemente. Quais são as suas primeiras lembranças como jogador no estádio?
A minha lembrança como jogador no Maracanã, o palco onde todo atleta sonha um dia jogar, foi a final da Taça Guanabara de 2000, entre Flamengo e Vasco, e o clube vascaíno goleou por 5 a 1 o rubro-negro, onde nesse jogo eu quase fiz um gol de cobertura no Clemer e a bola bateu na trave. Se aquela bola entrasse, seria 6 a 1 e um momento marcante da minha vida.
Nós do Museu da Pelada e seus leitores gostaríamos de saber alguma história engraçada. Pode nos contar?
Infelizmente não. Eu não posso contar mais histórias, pois eu faço shows de stand-up comedy e sou contratado por uma empresa que está me patrocinando. Mas basta procurar no Google as histórias do Amaralzinho, que vocês do Museu da Pelada e seus leitores irão ler muita coisa engraçada a meu respeito. Me desculpem, mas vou ficar devendo essa.
Defina Amaral em uma palavra?
Iluminado.