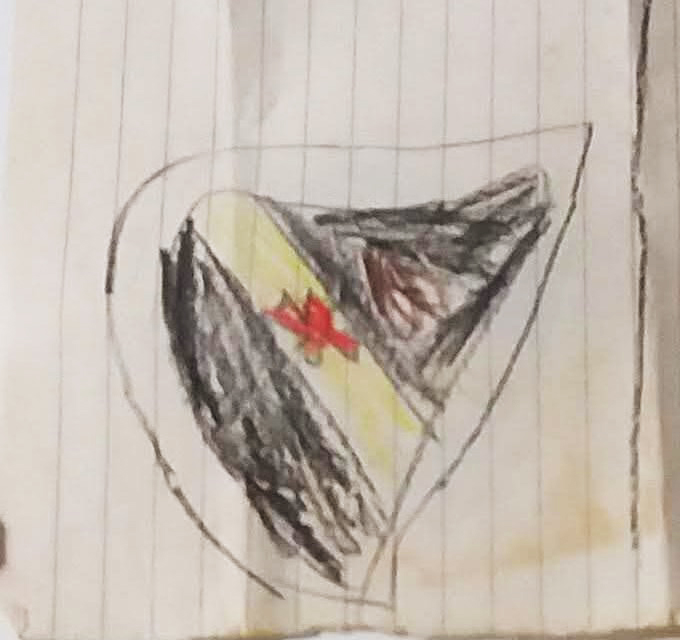por André Felipe de Lima

Zagallo, que sempre andava pelas bandas de General Severiano, nos idos de 1974, viu aquele rapaz bom de bola, cujo futebol lembrava ao “Velho Lobo”, de certa forma, a mesma mobilidade que ostentou quando ponta-esquerda nas Copas de 58 e 62. O tal pontinha corria o campo inteiro, ia à linha fundo e cruzava a pelota. A bola não entrava. Voltava ele para ajudar a defesa. Incansável. Enquanto muitos com a língua de fora, aquele, vá lá, formiguinha [apelido que ficaria para o resto da carreira], inteirinho da silva. Após performance tão convincente, o que Zagallo deve ter pensado: “Vou levá-lo para a Copa de 74… vai que dá certo e ele surpreende, zanzando entre ataque e defesa, na ponta, no meio…”.
Dirceu José Guimarães, o Dirceuzinho, foi à Copa, mas quem surpreendeu foi a Holanda, com um futebol revolucionário. Quem disse, porém, que no Brasil não havia um craque com a mesma mentalidade e atitude de um Cruyff, um Neeskens, um Repp… Dirceu era o cara. O que o tal “carrossel holandês” fez na Alemanha, em 74, Dirceu já fazia pelos campos do Paraná, com a camisa do Coritiba, e depois nos campos do Brasil, pelo Botafogo, quando sensibilizou Zagallo e remexeu na memória do treinador do escrete nacional. Dirceu estava além do seu tempo.

No Coritiba, nos primeiros momentos de sua carreira, Krüger — eterno ídolo da torcida — estava parando e o “formiguinha”, despontando. “Justamente por esta condição física acima da média que ele, há trinta anos, já praticava o futebol que hoje se exige”. Palavras do próprio Krüger, em reportagem de Valdelis Gubiã Antunes.
Outro treinador de escrete, o já falecido Cláudio Coutinho, endossou a fé de Zagallo em Dirceu. O extrema-esquerda àquela altura já estava no Vasco, conquistando títulos aqui e no exterior. Coutinho estava decidido a recuperar a imagem da seleção brasileira, arranhada após as eliminatórias para a Copa da Argentina, em 1978. Foi duro chegar ao Mundial, mesmo tendo em campo Zico, Reinaldo, Falcão, Júnior, Rodrigues Neto, Jorge Mendonça, Roberto Dinamite, Amaral, Gil… foi difícil pra caramba.

Mas o Brasil de Cláudio Coutinho era aguerrido, destemido. E tinha uma alma: Dirceu, que disse publicamente antes de embarcar: “Serei eu e mais dez”. O camarada jogou horrores. Fez três gols, um deles o da virada, 2 a 1, contra a Itália na disputa pelo terceiro lugar. Nelinho fez o outro, de falta. Cobrança sobrenatural, que curva…
Garfados pela lambança dos peruanos, que abriram as pernas e tomaram seis dos argentinos, ficamos de fora da final. De consolo, os gols de Roberto Dinamite e Dirceu, que acabou como terceiro melhor jogador da Copa.
Em campo, uma lady, como os cronistas das antigas se referiam aos jogadores no ponto para beliscar um Belfort Duarte, aquele prêmio destinado ao de maior lisura em campo, sem cartão vermelho ou amarelo. Dava gosto ver algum cartola da antiga CBD — apesar dos tempos de subserviência de Heleno Nunes aos generais de Brasília — premiando um craque como Dirceu. Brilhante em campo, técnico, raçudo, mas sem cartão. Sem ser expulso. Nada de vestiário antes da hora. Em 25 anos de carreira, sequer um vermelho. E jogou em mais de 10 times… com toda essa bagagem, nada de Belfort Duarte, que, aliás, está cada vez mais raro com o futebol chinfrim dos dias atuais, no qual prevalece a força. O mundo parece um grande “campeonato italiano”. Feio, insosso. Sem sal.
Dirceu nasceu em Curitiba, no dia 15 de junho de 1952. Quem o descobriu foi Ernesto Marques, pai do ex-jogador Cláudio Marques. Já nos tempos em que servia o Exército, Dirceu corria à beça. Era o campeão. Ninguém o superava. Nas divisões de base do Coxa jogou ao lado de Levir Culpi, hoje treinador. Permaneceu até 1972 no Alto da Glória, o bastante para conquistar dois campeonatos estaduais [1971 e 72] e o Torneio do Povo, no início de 1973; marcar apenas um gol em todos os Atletibas que disputou e assinar o seu nome na galeria de imortais do Alviverde pelo que representou para o futebol brasileiro.

Curitiba ficou pequena para Dirceuzinho.
Lembram do início da crônica? Da profecia do Zagallo… Dirceu cansou de gastar a bola no Botafogo. Deixou a ponta-esquerda do Coritiba aberta para Aladim, outra legenda do time paranaense. Com o Alvinegro carioca, onde chegou em 73, passeou pelos gramados do Maracanã, do Morumbi, do Mineirão… e foi à Copa no ano seguinte. Como o Botafogo tinha bom time, mas não erguia troféu algum, pintou a chance de ouro para, enfim, Dirceu se firmar no futebol carioca. O Fluminense, a máquina tricolor de Francisco Horta, com Rivellino, Pintinho, Gil, Carlos Alberto Torres, Edinho. Timaço. E Dirceu pôde comemorar. Foi campeão estadual e do badalado Torneio quadrangular de Paris, ambas competições realizadas em 1976.
O Vasco entrou em sua vida. O Vasco cedeu Luis Carlos ao Francisco Horta e levou Dirceu para São Januário. Mais títulos. Estadual, no qual disputou os 30 jogos da campanha vascaína e marcou 4 gols, e Torneio Teresa Herrera, todos em 1977, e Torneio Ramón de Carranza, durante a sua segunda e última passagem pelo time da colina.
A grande vitrine para Dirceu foi, no entanto, a seleção brasileira. Além das Copas de 74 e 78, também disputou a de 82, na Espanha, mas poucas vezes foi escalado por Telê Santana para o banco de reservas. Mesmo assim, contabilizou 44 jogos pelo escrete, com sete gols no currículo.
A Copa de 78 foi um divisor de águas para o ponta-esquerda. Logo após a performance irretocável nos gramados argentinos, a oferta de dólares do América do México foi irrecusável. Ficou apenas um ano por lá para, mais uma vez, ousar. Ou seja, Dirceu embarcou para o futebol europeu, uma decisão considerada, no final dos anos de 1970, um tiro no pé para qualquer jogador que almejasse chance na seleção brasileira. Afinal, os cracaços ficavam aqui mesmo, ao lado de suas torcidas. Zico, Falcão, Reinaldo… tudo bem que vários deles, após a aventura de Dirceu no Atlético de Madrid, optaram pelo mesmo caminho do “formiguinha”, mas em verdade vos digo: a frase célebre “amor à camisa” terminou com aquela geração.
Dirceu ficou no Atlético até 1982, trocando a Espanha pela Itália. Iniciou um verdadeiro tour pela vecchia bota. Do Verona foi para o Napoli, em 1983. Estranhou-se com os cartolas napolitanos por causa do contrato e arrumou as malas para o Ascoli em 1984. Um ano apenas, já estava em outro clube, o Como. Dali, em 86, partiu para o Avellino
Retornou ao futebol brasileiro em 1988, quando atuou mais uma vez pelo Vasco da Gama. Lembro-me de Dirceu quando chegou ao Brasil e concedeu várias entrevistas. O craque falava mais esperanto que qualquer outra coisa, tamanha a convergência idiomática [português, espanhol e italiano] que desenvolveu após a peregrinação pelos campos mexicanos, espanhóis e italianos.
Mesmo na reserva do time vascaíno, fez parte do grupo bicampeão estadual. A segunda passagem dele por São Januário durou pouco tempo e ainda no mesmo ano ele voltou ao exterior para defender o Miami Sharks [88], Empoli [89, 90 e 91], Bologna [90], Ancara [93 e 94] e Yucatán do México [95]. Quando regressou mais uma vez ao Brasil, não conseguia se desvencilhar do futebol.
Tornou-se peladeiro em pequenos campos da Barra da Tijuca, bairro da zona oeste do Rio. Na volta de uma destas peladas, no dia 15 de setembro de 1995, um grave acidente automobilístico na Avenida das Américas matou nosso “formiguinha”. O Puma dirigido por Dirceu, parado inocentemente na faixa, foi atingido por um Monza, que avançou o sinal vermelho. Jogador atento em campo e driblador, Dirceu não conseguiu escapar do impiedoso marcador de qualquer um de nós: a imprudência no trânsito.
i GUBIA ANTUNES, Valdelis. Dez anos sem Dirceuzinho. Reportagem veiculada em www. futebolpr.com.br, em setembro de 2005.
ii O único gol de Dirceu em Atletiba foi durante o empate [1 a 1], que aconteceu no estádio Belfort Duarte, no dia 6 de fevereiro de 1972. Ver:
revista Os grandes clássicos: números e histórias dos
22 maiores confrontos estaduais. Editora Abril/ Placar: maio de 2005, p. 101.