O PRÓXIMO JOGO
por Paulo Andel
São pouco mais de oito horas da manhã, num silêncio enorme abraçado à luz ensolarada da Cruz Vermelha. Estamos no último domingo de agosto. Por alguma razão o futebol cutuca meu ombro antes que eu levante para lavar o rosto, então volto no tempo e desembarco num outro domingo qualquer de agosto, podendo ser em 1979, 1980 ou 1981.
Era batata: uma rotina maravilhosa. Logo ao acordar, lá estava o rádio ligado no programa do Waldir Vieira – a vinheta tinha o assobio clássico da Rádio Globo – até que, em algum momento, anunciavam a cobertura da rodada do futebol a partir de meio-dia. E aí eu descia para fazer as compras matinais, sonhando em ir ao jogo no Maracanã, especialmente do meu Fluminense – se não desse, seria bom ir a outro também, quando o Flu jogava longe ou fora da cidade. Pão, ovos, queijo, presunto, Jornal dos Sports, O Globo, O Dia, Jornal do Brasil.
Terminado o Waldir, meu pai ligava a TV no Conversa de Arquibancada na Bandeirantes (hoje Band), o programa onde representantes das torcidas organizadas dos clubes cariocas debatiam o futebol. Era um barato. Personagens como Niltinho (Flamengo), Russão (Botafogo), Amâncio Cezar (Vasco, que viria a ser um de meus melhores professores na UERJ) e Antonio Gonzalez (do Fluminense, meu ídolo e que se tornaria meu grande amigo no futuro), comandados por Hamilton Bastos e posteriormente por Dênis Miranda. E depois de uma hora ouvindo os torcedores falarem do Maracanã e do futebol, eu só queria era ouvir a senha mágica, ir para o estádio e ver aquele mar de gente se espremendo com radinhos de pilha nos ouvido, uma experiência sensorial indescritível.
Mas que senha mágica? “Paulo, vá lá embaixo comprar lasanha na Trattoria Torna (da rua Anita Garibaldi)”. Não falhava nunca. Acho que o ritual do Maracanã para meu pai exigia a lasanha de domingo. Comprado o almoço e feita a deliciosa refeição, era só esperar o ônibus na porta do Shopping dos Antiquários em Copacabana e partir para a glória. Saíamos bem cedo, perto de uma da tarde, e geralmente chegávamos com os portões do Maracanã ainda fechados, o que aumentava ainda mais o clima do jogo.
Para nós, o 435 era bem mais rápido e ainda passava na porta do Fluminense, o que era sempre um bom presságio, mas meu pai geralmente pegava o 434, linha Grajaú-Leblon, eleito o ônibus de percurso mais charmoso do Rio, atravessando toda a zona sul, o centro da cidade, passando pelo Maracanã e depois por Vila Isabel. Desconfio de que ele gostasse do percurso e também quisesse me colocar para saborear a cidade. Uma hora depois, estávamos no Maraca. Tinha vendedores de laranjas – a descascada era mais cara -, de almofadinhas para assento – em dias de calor a arquibancada era quente! – de bandeirinhas de mão, de cachorro quente e, acreditem, o estádio dono do mundo tinha bancos de praça em suas cercanias. Em pouco tempo, o vazio era tomado por um mundaréu de gente.
A experiência de subir a rampa do Bellini ou da UERJ de mãos dadas com o pai era algo indescritível. E ainda passar pelas salas das torcidas, com a festa sendo preparada. O lance final era embarcar nos estreitíssimos e escuros túneis que davam acesso à arquibancada, como se você fosse teletransportado para outra dimensão, até que vinha a luz e qualquer garoto ia à Lua ao se deparar com aquele campo gigantesco, aquele monte de gente cantando, a preliminar rolando – ou prestes a acontecer -, os vendedores de Coca-Cola vestido feito astronautas, todos de branco, com capacete e o tanque de refresco nas costas como se fosse um respirador.
Às quinze para as cinco terminava o jogo dos juvenis. As torcidas começavam a arrumar suas bandeiras para desfilar na arquibancada. Papel picado, papel higiênico, pó de arroz, fumaça. Quando começava a ter algum burburinho na entrada dos vestiários, um de cada lado, subterrâneos, aí as torcidas explodiam de alegria. E quem torcia para o Fluminense sonhava com Edinho, Zezé, Deley, Mário, Pintinho, Gilberto, mas por tabela via Mendonça, Helinho, Marcelo, Carpeggiani, Adílio, Zico, Júnior, Roberto Dinamite, Paulo Cezar Caju, Orlando Lelé, Marco Antônio, Edu, Luisinho Tombo, Alex, Mirandinha, Moisés e Luizão lutando contra Wendell, Renato, Raul, Cantarele, Mazzaropi, Zé Carlos, Tobias, País, Ernani.
Às sete da noite, o jogo acabava. Ganhando, perdendo ou tendo apenas assistido, lá estava meu pai e sua mão a me puxar, enquanto eu já pensava na resenha da TVE, na reprise do jogo à meia-noite de domingo, ao próximo jogo que teria que ser pelo apaixonante radinho de pilha e também pelo próximo no Maracanã. O próximo, o próximo, o próximo jogo, numa sucessão infinita que talvez atravesse a morte, honrando as palavras do mestre Nelson Rodrigues.
Agora são nove da manhã do último domingo de agosto. Não estamos mais em 1979 ou 1980, mas em 2020. O rádio está desligado. A banca não vende mais jornais. A senha do pai emudeceu e o clássico do Maracanã foi ontem, com a bela vitória do Fluminense sobre o Vasco. Não há como ir ao jogo logo mais, seja de que time for, e o jeito é navegar pela televisão. E o próprio estádio é totalmente diferente do que já foi um dia. Mas quem disse que aquele desejo infinito de pegar o 434 em Copacabana e passear pela cidade por uma hora até chegar ao Maracanã passou? Não passa, não passará.
Quem subiu as rampas do Bellini ou da UERJ, mergulhou no micro túnel da arquibancada ou desfilou pela grande volta olímpica da geral, nunca mais deixou de voltar. É uma busca infinita pelo futebol, pela paixão, pelo Rio de Janeiro, feito a dos garimpeiros que não largam seu ofício à procura de uma pepita de ouro, aquela que explica a nossa paixão pelo jogo de bola. É o Maracanã, amigos. Que venha o próximo jogo!
VOZES DA BOLA: ENTREVISTA ALEXANDRE TORRES
O mundo todo acompanhou o ‘tirombaço’ do ‘capitão do Tri’, o lateral direito Carlos Alberto Torres, no último gol da vitória do Brasil sobre a Itália, no dia 21 de julho de 1970, na final da Copa do México, e em seguida a cena do ‘Capita’ erguendo a Taça Jules Rimet.
Naquele dia, a milhares de quilômetros do Estádio de Guadalajara, um garoto de quatro anos acompanhava pela televisão da sua casa, em São Paulo, toda aquela festa, e não imaginava que 10 anos depois, ele estaria dando os primeiros passos, seguidos de muitos chutes e cabeçadas na bola, seguindo a trajetória de campeão e líder em campo como foi o pai tricampeão.
Nascido em agosto de 1966, Carlos Alexandre Torres, o Torres, herdou do pai a semelhança física, a habilidade no trato refinado à bola, assim como o ‘Capita’, se formou na lateral-direita da base do Fluminense, onde chegou em 1980 aos 13 anos, e depois de se destacar nas competições, estreou nos profissionais em 1985, sagrando se Tricampeão Carioca.
Depois de seis anos, quando já havia trocado a lateral-direita pela zaga, o mundo da bola o levou para São Januário, onde conquistou o tricampeonato estadual de 1992/93/94 com a camisa vascaína, e se tornou ídolo da torcida.
O sucesso e o desafio por atuar num mercado de futebol em formação o levou para o Japão, onde defendeu o Nagoya Grampus, conquistando novos títulos.
Alexandre Torres construiu uma carreira respeitada, sendo convocado para a Seleção Brasileira em seis oportunidades, e acabou sendo prejudicado por três graves contusões.
Filho do saudoso Carlos Alberto Torres, nosso sétimo personagem é Alexandre Torres, que conversou com o Museu da Pelada para a série ‘Vozes da Bola’
por Marcos Vinicius Cabral e Fabio Lacerda
Assim como seu pai, você começou no Fluminense. Você se lembra, à época que subiu ao profissional, de supostas comparações com o ‘Capita’?
Eu joguei como meio campista logo que cheguei ao Fluminense, aos 13 anos. Nessa posição ganhei títulos no infantil, juvenil e cheguei a jogar na Seleção Brasileira Sub-17. Depois disso, nos juniores, passei para a zaga, mas eventualmente jogava como lateral-direito. O lateral do time principal (Aldo) sofreu uma fratura e joguei a Taça São Paulo como lateral, para servir de teste. Fui bem e subi para os profissionais como lateral.
Quem foi sua grande inspiração no futebol?
Nosso futebol sempre foi muito rico, e meu pai, obviamente, foi minha maior inspiração. Mas posso dizer que, na verdade, o próprio futebol brasileiro foi minha inspiração. Sempre aparecendo grandes jogadores, grandes jogadas, grandes times.
Dentre os grandes do Rio, seu pai não jogou no América, Bangu e Vasco e você esteve em São Januário em duas oportunidades, antes e depois da sua passagem pelo futebol japonês. Apesar de ter conquistado o tricampeonato Carioca, um Brasileiro e a Mercosul defendendo o Cruzmaltino, e as estatísticas demonstrarem que você foi um dos maiores zagueiros da história do clube, seu nome é pouco falado ou lembrado pela torcida. Você atribui isso a quê?
Eu tive ótimos momentos no Vasco e, na verdade, sou tratado com muito carinho pelas pessoas do clube e seus torcedores. Não sou muito falado, é verdade, mas sei o que fiz quando joguei no Vasco, e sou muito bom pra me auto-avaliar.
No Campeonato Brasileiro de 1990, quando você formou uma grande dupla de zaga no Fluminense, ficou um gosto amargo após a eliminação para o Bragantino?
Tínhamos feito uma campanha ruim, correndo até risco de rebaixamento, depois o time se acertou e fizemos uma ótima campanha. Poderíamos ter vencido o Bragantino, mas nosso time fez o seu melhor. Não tínhamos o melhor time do campeonato.
Quem foi seu melhor companheiro de zaga?
Tive a sorte de jogar com grandes zagueiros. Alguns foram os óbvios Ricardo Gomes, Válber e Ricardo Rocha. Mas outros zagueiros foram parceiros importantes também, como Vica, Jorge Luiz e Géder. O zagueiro Go Oiwa, que jogou comigo durante cinco temporadas no Japão, foi um ótimo companheiro de zaga. Muito bom e me ajudou muito.
No último 19 de julho foi comemorado o Dia Nacional do Futebol. O que representou o futebol para Alexandre Torres?
O futebol foi e é a minha vida. Quando eu nasci, o futebol do meu pai sustentava a nossa família. E até hoje, é do futebol que eu sustento a minha. Já tentei sem sucesso fazer outras atividades, mas só no futebol me realizo.
Fale sobre sua experiência no Japão que naquela época já tinha o modelo de negócio de clube-empresa…
Foi uma experiência muito boa. Os torcedores eram muito amistosos e os times, assim como o país, eram, e acredito que ainda são, super organizados. O modelo de clube empresa lá é diferente, pois as grandes empresas são as donas dos clubes. Os diretores dos clubes, geralmente, são recrutadas dentro das empresas e seguem o modelo administrativo da empresa. O futebol é tocado pelo treinador ou alguém contratado para essa finalidade. Nem sempre funciona bem em termos esportivos, mas funciona muito bem em organização e finanças.
Você lamenta por não ter jogado na Europa? Você chegou a ser sondado por algum clube do Velho Continente?
Realmente, eu queria ter jogado na Europa. Tive algumas sondagens, e na época, disseram que houve propostas, mas que não foram aceitas, principalmente pelo Fluminense. Era uma época anterior aos empresários e tinha a lei do passe.
Você acha que poderia ter tido mais oportunidades na Seleção?
Na época em que joguei, talvez tenha sido o período com o maior número de zagueiros de bom nível técnico dos últimos tempos. Nesse sentido, a disputa era grande e muito acirrada. Fui cortado de algumas convocações por motivo de contusão. Quando estive na Seleção fui bem nos treinamentos e estava confiante. De umas seis convocações, consegui estar com o grupo em dois amistosos, e joguei 15 minutos em um deles. Na minha opinião, eu não era pra ter jogado 100 jogos pela seleção, mas também não era pra ter jogado apenas um.
Do que você sente mais saudades quando era jogador?
De jogar. Eu adorava jogar. Gostava do desafio. Me sentia bem estando dentro de campo, procurando as soluções para resolver as jogadas. Gostava daquele clima dos estádios e de fazer parte de um time. Sinto saudades disso!
Como se sente tendo sido filho de um dos maiores laterais do futebol mundial?
É engraçado que até os meus 18, 19 anos nunca tinha pensado nisso. Sabia que ele tinha sido um jogador importante, mas pra mim era o meu pai. Depois que passei a viver do futebol profissionalmente, comecei a entender o tamanho dele no mundo do futebol. No início era uma pressão insustentável que eu mesmo me impunha para tentar superá-lo. Depois de um tempo eu me dediquei a achar meu próprio caminho. E finalmente, reconhecendo o talento, a fama, e o carisma dele com muito orgulho.
Então, ser filho do ‘Capitão do Tri’ te atrapalhou um pouco no início da carreira?
Era um peso muito grande. Meu pai foi, na sua posição, um dos melhores jogadores de todos os tempos. Isso é muita coisa. As pessoas criam expectativas muito grandes. Tanto positivas, quanto negativas, e que podem te desestabilizar, ainda mais quando você é um garoto. Mas eu queria ser jogador profissional e para ter sucesso tinha que superar isso. Foi difícil, mas consegui.
Defina Alexandre Torres em uma única palavra?
Humano.
Seu pai era exigente com você? Ele te cobrava muito na época em que você foi profissional? Como era essa relação?
Não. E devo a ele ter tido algum sucesso como jogador profissional. Meu pai sempre me apoiou, mas nunca me cobrou nada. Algumas raras vezes, ele me dava algumas dicas, de posicionamento e coisas do tipo. Ele fazia alguns comentários sobre a minha carreira, renovação de contratos, proposta de outros clubes, mas nunca me cobrou nada. Só me apoiou.
Faltou algo na sua carreira?
Acho que faltou muita coisa, mas só conseguimos entender isso depois que paramos. Em algum momento da carreira ou da vida poderia ter feito algumas escolhas diferentes. O mais importante é que tenho essa consciência, mas não sou ressentido com isso. Tive uma carreira muito boa que proporcionou coisas importantes para mim e para minha família.
Quais os ensinamentos que o ‘Capita’ deixou para o cidadão e jogador Alexandre Torres?
Meu pai tinha várias qualidades que eu admirava. Ele tinha liderança, personalidade e muita confiança. Mas a principal virtude dele era ser verdadeiro com o que ele acreditava. Temos personalidades diferentes, mas tento seguir esse exemplo.
Como tem enfrentado esses dias de isolamento social devido ao coronavírus?
Tenho uma rotina de trabalho e também procuro me exercitar todos os dias. Fico preocupado com os amigos e familiares, mas não há muita coisa a fazer. Esse vírus pegou todo mundo de surpresa e não me meto a opinar sobre o que não conheço.
E A AMÉRICA FICOU AZUL DE NOVO
por Claudio Lovato
Esta é uma das melhores lembranças que guardo comigo sobre idas a estádio na condição de visitante. Dia 1º de setembro de 1996, um domingo, eu e meu irmão mais novo a bordo de um ônibus 474, Copacabana-São Cristóvão, a caminho de São Januário para ver o nosso Grêmio enfrentar o Vasco pelo Brasileirão. Acomodados lado a lado num banco próximo ao do cobrador, tínhamos à nossa frente pai e filho vascaínos. Os dois usavam camisas com o número 10 sobre a faixa transversal preta, como muitos outros que estavam ali. Eu conversava com o meu mano e ao mesmo tempo tentava prestar atenção ao papo dos dois à nossa frente.
Lá pelas tantas, o guri disse:
– Hoje não vai ser fácil.
Ao que o pai respondeu:
– Não vai mesmo. Esses caras jogam até no inferno!
Nunca mais esqueci aquilo. Nunca vou esquecer. Ser respeitado pelos adversários, respeitado de verdade, é uma das melhores coisas no esporte e na vida.
Jogo duríssimo. Pimentel fez um a zero para o Vasco aos 40 minutos do segundo tempo. Paulo Nunes empatou para o Grêmio aos 47. Naquele ano, o Grêmio conquistaria o seu bicampeonato nacional, batendo a Portuguesa na final.
A história daquele time que eu e meu irmão acabáramos de ver enfrentar o Vasco havia começado nos primeiros dias de 1995, quando se reuniram, no vestiário do Estádio Olímpico, jovens pratas da casa (alguns deles remanescentes da equipe campeã da Copa do Brasil do ano anterior, como Danrlei, Roger e Carlos Miguel) e jogadores vindos de fora, este segundo grupo formado por veteranos e novos, alguns deles desvalorizados nos clubes de procedência. Esse time daria à torcida, meses depois, um dos principais títulos da vitoriosa trajetória do clube: o bicampeonato daLibertadores da América.
A taça continental foi erguida quase exatamente um ano antes daquele empate em São Januário. Em 30 de agosto de 1995, o Grêmio conquistava sua segunda Libertadores da América ao empatar em 1x 1 com o Atlético Nacional de Medellín, na cidade colombiana (gols de Aristizábal e Dinho), coroando uma campanha de oito vitórias, quatro empates e duas derrotas. O Tricolor vencera o primeiro jogo da final por 3x 1 em Porto Alegre, uma semana antes: Marulanda (contra), Jardel e Paulo Nunes balançaram as redes para o Grêmio e Ángel descontou para Atlético Nacional.
Havia muito e muito mais que isto: as defesas brilhantes, algumas inacreditáveis, e a vibração incendiária de Danrlei, os cruzamentos perfeitos e os chutes potentes de Arce, a técnica e a segurança de Adilson e Rivarola, a consciência tática e os passes precisos de Roger, a experiência e a liderança de Dinho e Goiano, volantes com ótima saída de bola, os dribles e a movimentação de Arílson, avisão de jogo e os lançamentos geniais de Carlos Miguel, o entendimento e o instinto matador de Paulo Nunes e Jardel, autores de 16 dos 29 gols (11 de Jardel) marcados pelo Grêmio na campanha, que incluiu embates antológicos contra o Palmeiras. Mas havia também a capacidade de entrega e a qualidade dos outros jogadores do elenco, entre os quais Emerson (que viria a se tornar capitão da Seleção Brasileira), Luciano, Magno, AlexandreXoxó, Nildo, Murilo, Sílvio, Vagner Mancini e Jacques.
Havia mais, é claro: o conhecimento de futebol de Luiz Felipe Scolari, para nós sempre Felipão, que montou e comandou um time de grande qualidade técnica e mentalidade vencedora, que,jogo após jogo, sufocava os adversários em campo; a excelência da preparação física de Paulo Paixão, fundamental para o estilo de jogo praticado pela equipe; a condução sábia, serena e apaixonada do grande presidente Fábio Koff e as constantes demonstrações de amor de uma torcida que promovia celebrações lendárias no Olímpico lotado em completa comunhão com a equipe, míticas avalanches da alma azul-preta-e-branca que tiveram seus primórdios no Fortim da Baixada e hoje encontram palco e templo na nossa Arenainaugurada em 2012.
Neste 30 de agosto de 2020, a torcida do Grêmio comemora os 25 anos do bicampeonato da Libertadores da América e exalta um espírito que levou o clube a tocar o céu várias vezes, frequentemente por ter sabido jogar, e vencer, até no inferno.
A campanha
Primeira fase:
Palmeiras 3 x 2 Grêmio (21/02, São Paulo)
Emelec 2 x 2 Grêmio (14/04, Guayaquil)
El Nacional 1 x 2 Grêmio (17/03, Quito)
Grêmio 0 x 0 Palmeiras (22/03, Porto Alegre)
Grêmio 4 x 1 Emelec (31/03, Porto Alegre)
Grêmio 2 x 0 El Nacional (07/04, Porto Alegre)
Oitavas-de-final:
Olímpia 0 x 3 Grêmio (25/04, Asunción)
Grêmio 2 x 0 Olímpia (03/05, Porto Alegre)
Quartas-de-final:
Grêmio 5 x 0 Palmeiras (26/07, Porto Alegre)
Palmeiras 5 x 1 Grêmio (02/08, São Paulo)
Semifinal:
Emelec 0 x 0 Grêmio (10/08, Guayaquil)
Grêmio 2 x 0 Emelec (16/08, Porto Alegre)
Final:
Grêmio 3 x 1 Atlético Nacional (23/08, Porto Alegre)
Atlético Nacional 1 x 1 Grêmio (30/08, Medellín)
Ernani + Paulinho Pereira
CRIAS DA CRUZADA
Se o Brasil já foi considerado o país do futebol, muito se deve às comunidades, que tanto revelam craques por aí! No Rio de Janeiro, a Cruzada São Sebastião, no Leblon, é uma delas e a equipe do Museu foi até lá bater um papo com Paulinho Pereira e Ernani, duas feras que deram seus primeiros chutes na região!
Com o tradicional sorriso no rosto, Paulinho Pereira nos recebeu e nos conduziu até o Bloco 7 da Cruzada, onde tudo começou.Pouco tempo depois, Ernani chegou e logo relembrou:
– Eu morava no terceiro andar e o Paulinho no sétimo!
Vale destacar que, além da dupla, os craques Dominguinhos, Ruy Rey, Beto Antunes, Adílio e Uri Geller também são crias da Cruzada que desfilaram seus talentos pelos gramados!
Como era de se esperar, a resenha foi de altíssimo nível e duro foi ter que nos despedir dessa dupla para um outro compromisso!

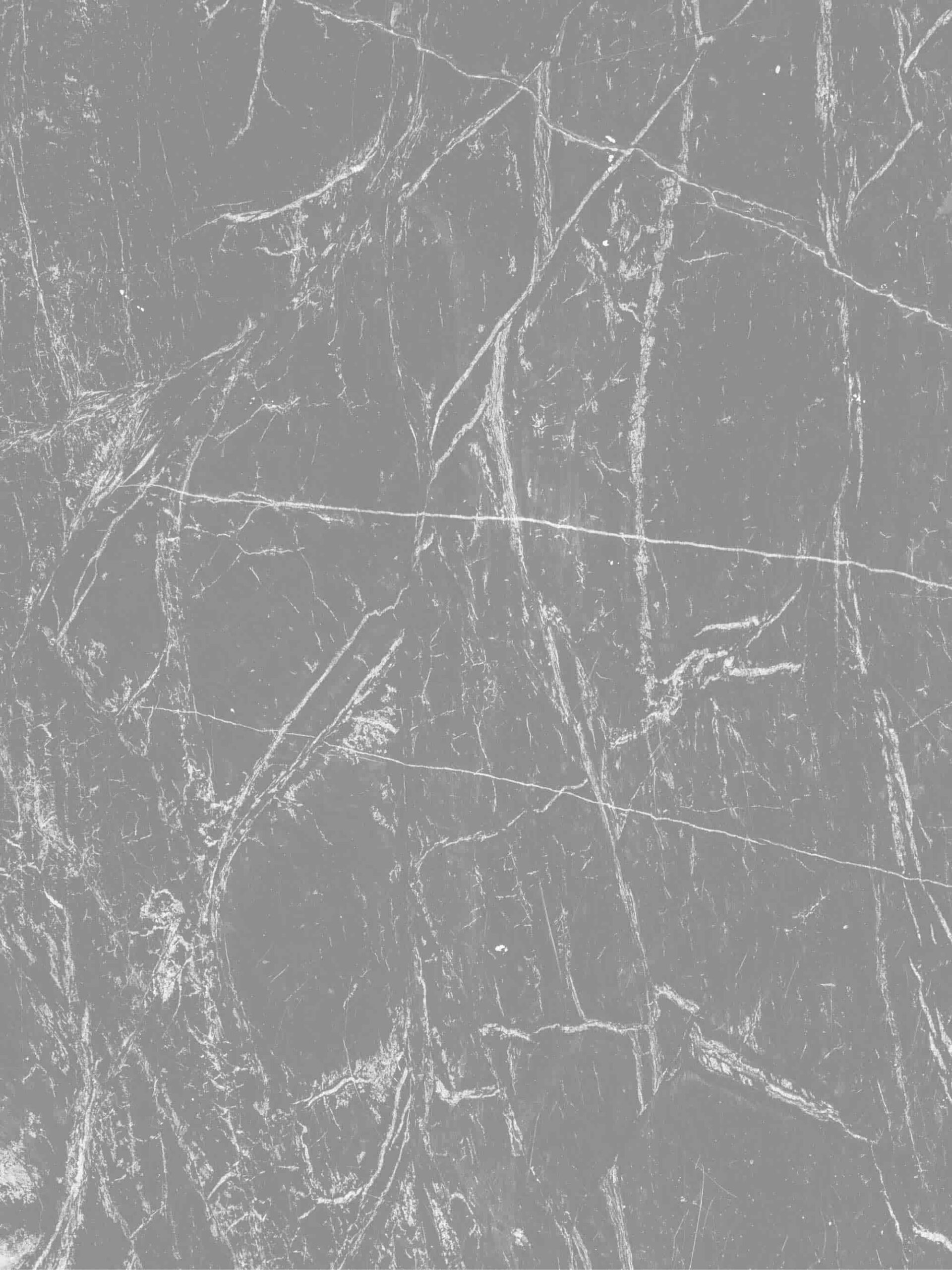




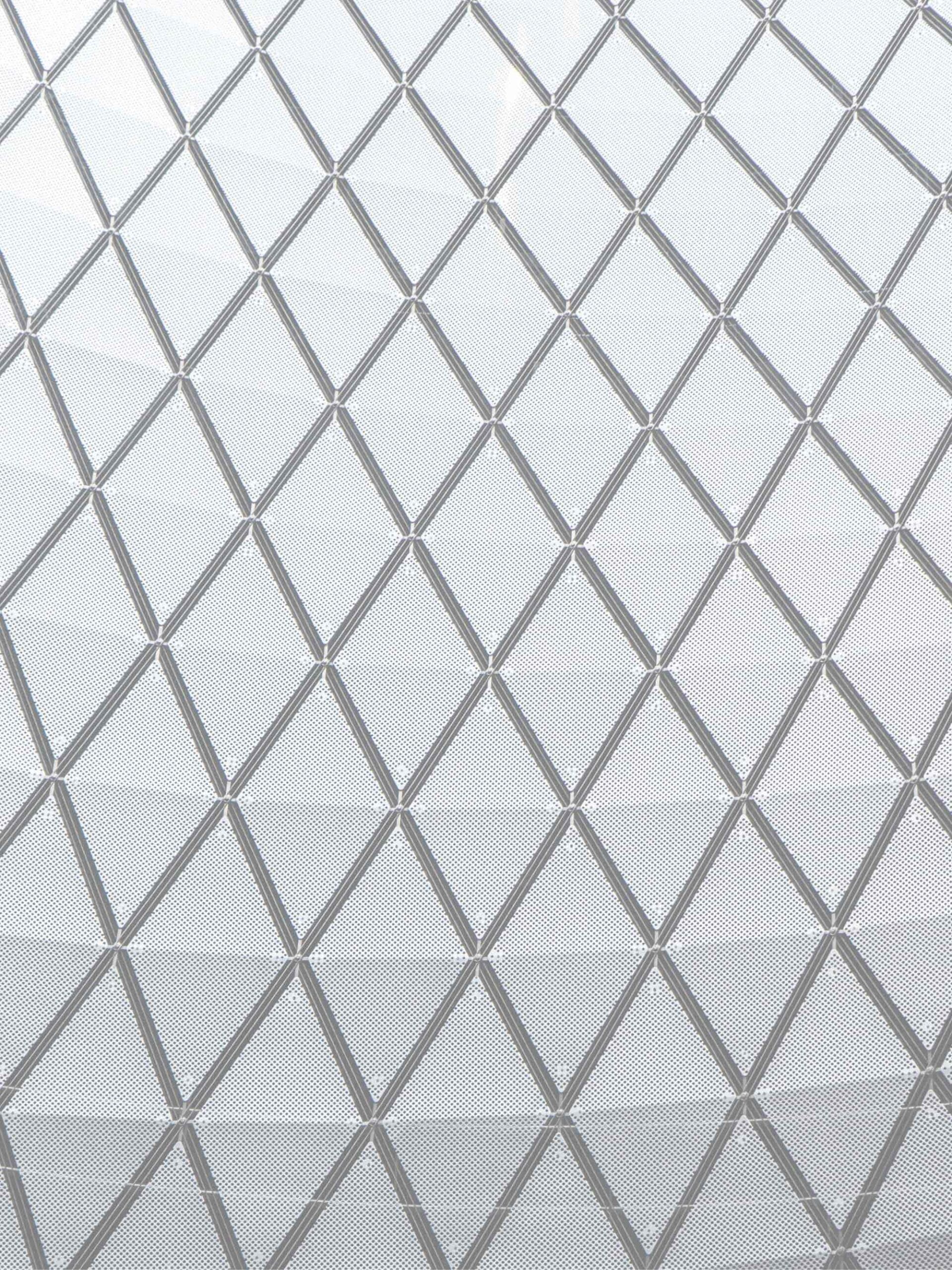
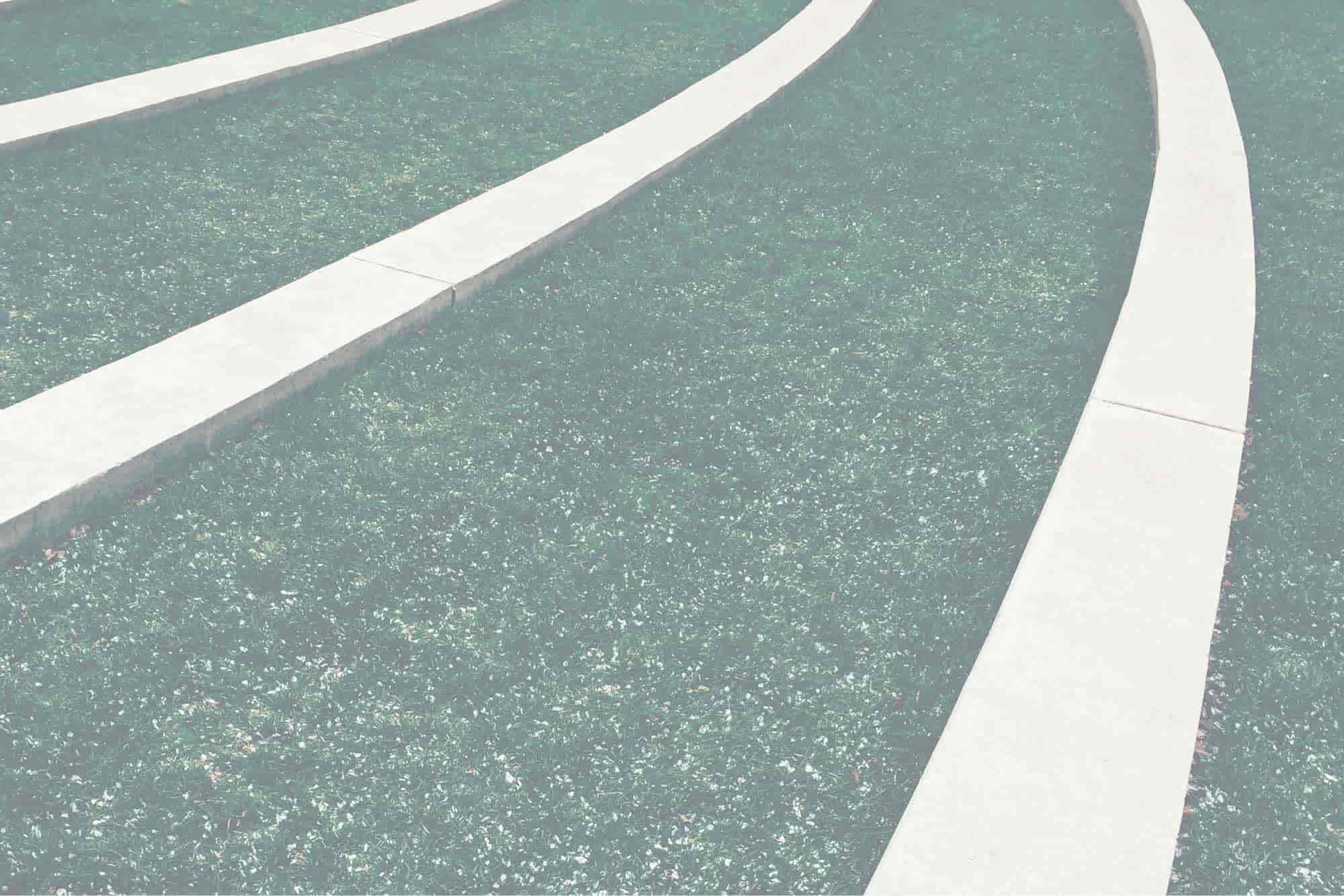


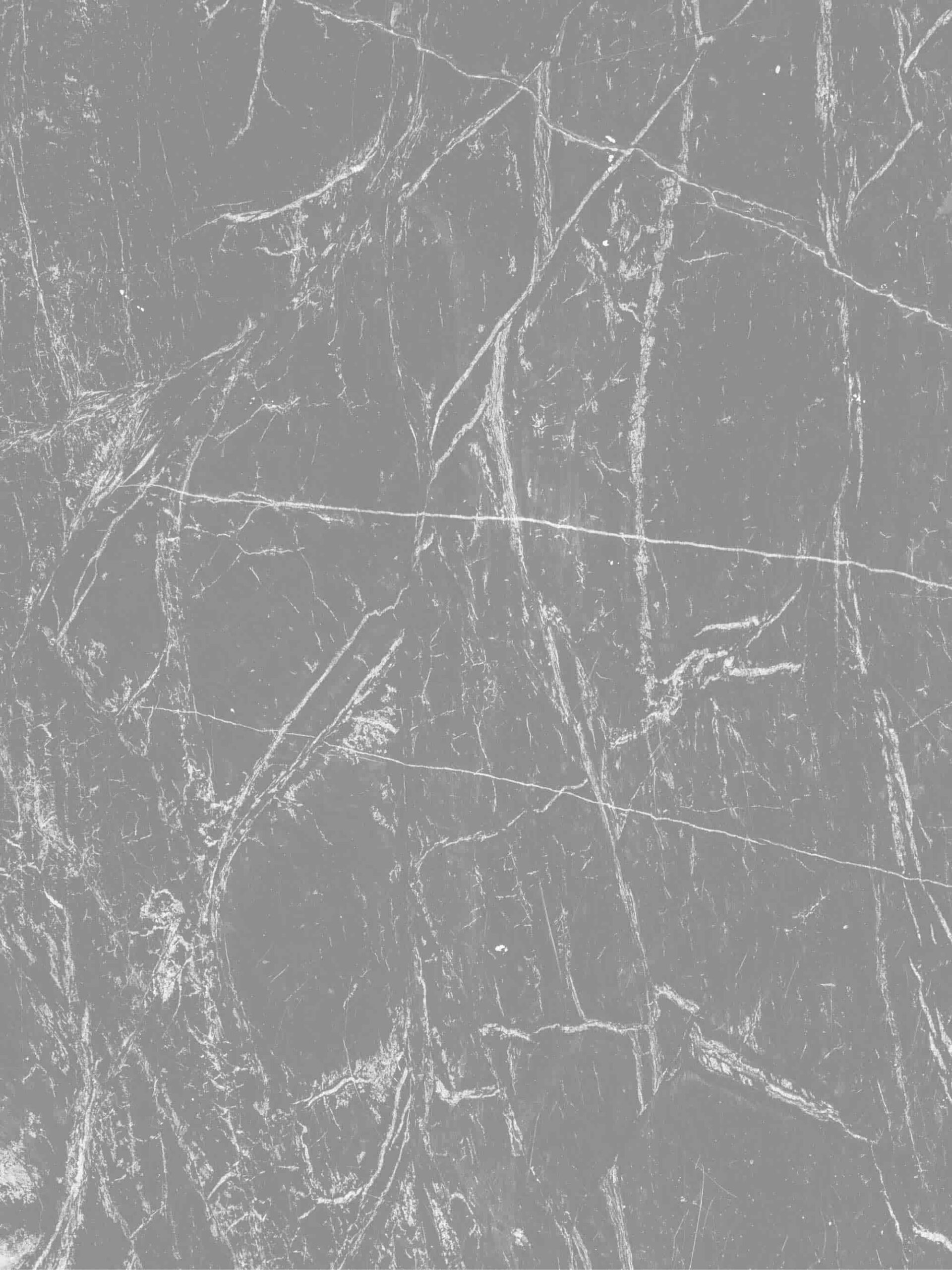

Agustín Lucas
FUTEBOL, POESIA E REBELDIA
entrevista e texto: Paulo Escobar
Nos caminhos das entrevistas que tenho feito talvez este seja um grande amigo, que a vida me deu, nas ruas de Montevidéu cansamos de falar de futebol em algum bar banhado a cerveja. Sabendo das suas histórias de jogos, contos e manifestos que tinha feito através dos anos que correu atrás dos atacantes, nesse país maravilhoso chamado Uruguai. Durante os três meses que estive, entre o final do ano passado e começo deste, em Montevidéu, fiz muita entrevistas que saíram aqui no Museu.
Muitos ídolos Uruguaios que pisaram Campos no Brasil, e com ele não tivemos tempos e nem condições de fazer a entrevista. Então durante a pandemia conversamos com o grande Agustín Lucas, ex jogador e hoje escritor e colunista do jornal La Diaria de Montevidéu e da revista Tunel. É lá que de um jeito poético conta sobre a rodada do campeonato e de jogadores não tão comentado como os da série B ou C, trazendo a tona as divisões ditas inferiores.
Agustín foi um zagueiro que passou por muitos clubes do Uruguai e exterior, que já nos seus tempos de jogador reivindicou e trouxe a tona a desigualdade nas divisões e de jogador para jogador. Rebeldia esta que faz com que no ano de 2015 articule e organize os jogadores de futebol no Uruguai a paralisar as atividades, exigindo os direitos do jogadores de todas as divisões do futebol uruguaio. Foram realizadas duas manifestações nas ruas de Montevidéu com aproximadamente 700 jogadores mobilizados e trazendo a tona a desigualdade nas estruturas do futebol. Esteve na articulação do livro Pelota de Papel um livro de contos escritos por jogadores e jogadoras de futebol. O qual já tem três volumes e muito vendido na América Latina, e que faz muita falta na língua portuguesa.
Sem mais os deixo com a resenha deste que é mais que um jogador de futebol.





