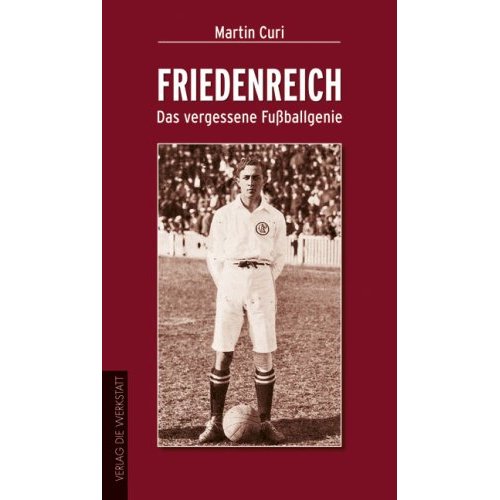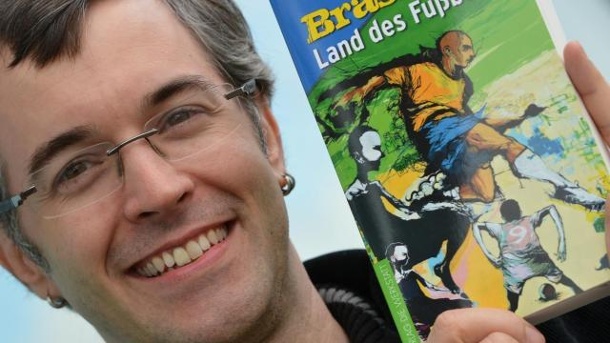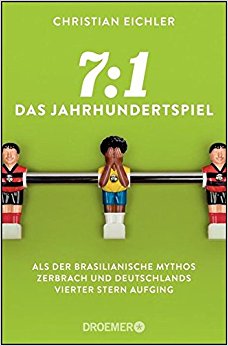MELHORES MOMENTOS
por José Dias
No dia 5 de janeiro de 1972, quando adentrei no vestiário do Flamengo, na Gávea, tremendo mais que vara verde, senti que começava o jogo mais importante da minha vida e que duraria, com os acréscimos, cerca de 40 anos.
Aristobolo Mesquita, um misto de Supervisor/Dono do Clube, avisou ao roupeiro FERRUGEM – dê material para o Prof. José Dias -, nosso novo Preparador Físico.
Deve ter pensado::
– Pô, mais um para encher o saco.
Tirou, não sei de onde, um calção e uma camisa, usados, com o nome do antigo Professor – SALDANHA -, que por sinal era um perfeito armário, de tão grande e forte que era. Agora imaginem – eu, grande e parecido com um poste, de tão fino que era, dentro daquele uniforme. Vida que segue.
DOVAL, por sinal um grande “sacana”, passou os dois anos em que convivemos juntos, me chamando de Saldanha, mesmo já sabendo meu nome.
O que fazer com um jogador que, em campo, corria mais do que o LULA do Juiz SERGIO MORO, e fazia gols em pencas, apesar de que nas corridas que fazíamos na Vista Chinesa toda semana – naquela época, só jogávamos aos domingos -, pegava carona com um amigo ou uma namorada e pouco antes da linha de chegada, desembarcava e passava bufando por mim, que de cronômetro na mão cantava:
– Boa, Doval! 30 minutos e 12 segundos, tá melhorando seu tempo – como eu era BABACA e não sabia!
Ainda do “gringo” tenho mais histórias. Amistoso numa capital do Nordeste e, após o jogo, os jogadores foram liberados. Lá pelas tantas, na hora marcada para o regresso, em frente ao hotel, estaciona um conversível importado, com uma reluzente motorista (diziam que era Miss do Estado) para devolver a “mercadoria” já devidamente provada, porém, intacta.
Não tivesse sido o gringo batizado com o nome de NARCISO, filho de um Deus, não sei de onde – deve ser lá dos “pampas”.
GERALDO! Que número você calça? É para pedir um par de tênis! Perguntava o roupeiro Ferrugem.
Respondia ele:
– De 37 até 44 tá bom. É de grátis!
Estávamos em Feira de Santana, interior da Bahia e íamos participar de um amistoso – como o Flamengo faturava nos amistosos no interior do País -, quando, do seu “bangalô, porta a fora, Ferrugem, branco feito uma cera, assustado e aos berros. Motivo? Como fazia um calor “baiano”, dos ralos do pátio, surgiam inúmeros sapos, mas não eram sapos comuns, iguais àqueles que conhecemos. Eram verdadeiros monstros, enormes. E, junto com os demais “sacanas” que eram os jogadores, Doval devia estar no meio, esconderam um deles na cama do Ferrugem. Perceberam o porquê da correria do roupeiro?
Alberto Leguelé (Foto: Vaner Casaes)
Como se estivesse sonhando, me vejo em Point Noire, no Congo/África, e os jogadores da Seleção Olímpica entraram no campo para o aquecimento, antes do jogo. De repente, não mais que de repente, o ALBERTO LEGUELÉ, baiano, gozador que nem ele só, parou de abraços abertos, aos gritos dizia:
– Como é João Santos (ponta esquerda do Santa Cruz), vai ficar aí, parado?
Nada disso, o apelido dele era SAPO e, o sacana viu um sapo onde eles estavam. MARINHO, outro da turma, era o que mais zoava, o mesmo que, no campo do Atlântico Sul, em Vargem Grande, local onde o Botafogo treinava, um dia chegou pilotando um Mercedes Benz, quase tão reluzente quanto o da “noiva” do Doval. Curiosidade geral. Perguntas para cá e perguntas para lá, quando ele abre o capô e mostra com aquela cara que Deus lhe deu – motor de opala que já bateu biela. Minutos depois, ouve-se gritos histéricos vindo da sala de massagens, que se ouvia na rua em frente.
– Não para, Zé Carlos. Vai! Com mais força! Vou gozar! Ui! Gozei ……
Era o Marinho sendo massageado antes de entrar em campo para o treino. Assim era esse fenômeno de jogador, querido e admirado por todos.
Logo após esse lance com o Marinho, ouve-se uma barulheira no campo. Fora do campo, depois do muro, com uma porteira, tinha um pasto onde bois e vacas pastavam. Tinha um touro ou vaca, ainda adolescente, bravo para caramba. Assim que o pessoal chegava para o treino, estivesse onde estivesse, partia em desabalada carreira em direção a porteira e por ali ficava. Nesse dia, a porteira estava aberta e foi o que se viu em seguida. O boizinho correndo atrás de quem estivesse à sua frente, entre os carros, até passar pelo portão do campo. Aí o bicho pega!
O SANCHEZ, treinador de goleiros, estava sob uma das balizas e a fera partiu para cima dele. Ninguém sabe, ninguém viu, mas em frações de segundos, surge o Professor cavalgando o travessão e lá ficou, até a fera desistir.
Um dos melhores momentos dessa vida de “boleiro” é o tempo reservado para as “resenhas”. Nessas horas muitos se revelam, gente impossível de se imaginar. Dos muitos que conheci, quatro eram inigualáveis: No ranking dos melhores eu destaco – em ordem decrescente a partir do melhor -, VAVÁ; MELLO; TELÊ (com o palitinho no canto da boca) e o jogador WALDIR (do Guarani).
Waldir, especialista em piadas de “fanhos”. Sensacional.
Telê, eclético. Piadas sem um motivo aparente e uma das melhores era a do “trilema”, que o horário não permite sua divulgação. Hilária.
Mello, além de narrar, interpretava e as melhores eram a do cara que sonhava e transformações ocorriam com sua “genitália” e a do macaco equilibrista em fios de alta tensão. Também impróprias para o horário nobre.
Agora, VAVÁ – esse era fenomenal. Não sei se era melhor como atacante ou como contador de piadas. Interpretava ao extremo. Contava uma sobre “a vaca” (que bem podia ser aquela lá no campo de treino do Botafogo, já adulta). Resumo da ópera, final da piada: Olha a vaca aí gente!
Nessa hora, Vavá subia numa cadeira, numa mureta ou qualquer lugar elevado, se jogava no chão se “estabacando” todo, rindo mais que qualquer um de seus ouvintes. Até hoje não sei se ria mais do Vavá ou das piadas que ele contava.
Durante o desenrolar desse jogo, não podia deixar de lado as lembranças que uma foto deixou. Foto histórica e memorável, pois reúne figuras históricas e memoráveis que já se foram e que deixaram um legado inestimável. Dissertar sobre eles desnecessário se torna.
O técnico Zizinho (sentado no canto esquerdo), o jornalista Hideki, Roberto Abranches (Chefe da Delegação), Parreira, Coutinho (Supervisor nessa oportunidade), o preparador físico Sebastião Araújo e José Dias (administrador)
Desses “melhores momentos” não podia deixar passar as figuras de dirigentes que, no meu entender, honraram suas funções, bem diferentes de muitos dos de hoje:
Giulite Coutinho: o presidente da CBF. Carrancudo e que fazia muita gente tremer. Talvez eu, junto com Doutor Althemar Dutra de Castilho, tenhamos sido os poucos que vimos o “homem de ferro” chorar quando do desembarque da seleção em 1982, no Galeão. Foi emocionante!
Manoel Schwartz: presidente do Fluminense. Esse eu sei que não meteu a mão.
Castro Gil: vice-presidente de Futebol, também do Fluminense, e que não se achava o dono da verdade. Ouvia quem tivesse que ser ouvido antes de tomar uma decisão.
Gilberto Coelho: diretor de finanças e depois diretor de competições da CBF. Com as mesmas características do Castro Gil. Saiu da CBF por discordar de algumas coisas que ocorreram com as finanças da entidade.
Roberto Abranches: Esse era o “cara”. Era de uma simplicidade que irritava. Se enturmava com uma facilidade incrível.
Chefiava a delegação da seleção Sub 18 e estávamos em Paris quando aceitamos o convite para assistir ao espetáculo do MOULIN ROUGE. Durante o evento, alguém chamou membros da delegação para subir ao palco e quem atendeu, de pronto, foi o “Doutor Abranches” que, abraçado com as vedetes, dançou o CAN CAN. Gente! Imperdível!
O mesmo tinha acontecido, antes, em ABADAN/Iran.
O último dos melhores momentos ocorreu em 1983, quando no dia 19 de junho, no Estádio Azteca, o Brasil conquistou, pela primeira vez, o título de campeão mundial invicto, da categoria Sub 19, hoje Sub 20.
Pouco antes do término dessa partida, recebi um “amargo” cartão vermelho, que me defenestrou de vez, aplicado por um ……….de ……………
Hoje, só me resta ter ânimo para continuar passando informações que possam ser do interesse de quem assim o desejar.
ANATOMIA DE UMAS DERROTAS
por Cesar Oliveira
(Foto: Reprodução)
O 7 a 1 continua vivo na memória de quem se interessa pela História do Futebol. Jamais se apagará da memória. Os “memes” jamais serão apagados. Felipão nunca o descolará das suas costas.
Como o “Maracanazo”, em 1950; como a goleada da Seleção Húngara contra o English Team, dentro de Wembley, em 1953;.como a derrota da Laranja Mecânica (1974), como a “Tragédia de Sarriá” (1982).
No dia do desastre, confesso, não tive como impedir uma gargalhada, a cada gol, vendo aquele time tosco e arrogante bater cabeça perante uma bem organizada e letal seleção alemã. O desastre, aos meus olhos de “apreciador do futebol”, era previsível – mas não de maneira tão ridícula.
A derrota anulou, por assim dizer, todas as maldições e injustiças cometidas por todos nós com os craques vice-campeões do mundo de 1950, especialmente o goleiro Moacyr Barbosa (1921-2002).
Na sua capa do dia seguinte à acachapante derrota, o jornal “Extra”, do Rio de Janeiro, lavava a nossa alma, homenageando os vice-campeões de 1950, com um enorme “Parabéns!” na capa.
Agora, o administrador de empresa e escritor Darcio Ricca me dá conta de que está escrevendo, em parceria com o conhecido escritor e administrador de empresas Max Gehringer, uma análise histórico-boleira do 7 a 1, pelo lado brasileiro, que deve estar nas livrarias – físicas e virtuais – no primeiro semestre de 2018.
Foi com Darcio que tive o prazer de editar, antes da Copa 2014, o livro “De Charles Miller à Gorduchinha: a evolução tática do futebol em 150 anos de história – 1863 a 2013)”.
Ele é membro ativo do Memofut (Grupo de Literatura e Memória do Futebol, que se reúne mensalmente, no auditório do Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo), é editor do blog “3 na Copa” e troca ideias com outros “Apreciadores do Futebol” num grupo de WhatsApp para o qual tive a honra de ser convidado por ele.
Max Gehringer, por seu lado, além de importante administrador e consultor de empresas, adora futebol, participa ativamente do Memofut e é autor do “Almanaque dos Mundiais: os mais curiosos casos e histórias – de 1930 a 2006” (Globo Livros).
UM OLHAR GERMÂNICO SOBRE O 7×1
Manchetes de jornais alemães
Conversando sobre o desenvolvimento, Darcio me fala de pessoas a quem ele gostaria de consultar e entrevistar – Toni Kroos, Joachim Löw. Hoje, com internet e o acesso a jornalistas baseados na Europa, isso não será problema – procurei animá-lo.
Para colaborar, falei-lhe do professor Martin Curi, doutor em Antropologia, pela PPGA-UFF (Niterói), que se formou com o trabalho “Espaços da emoção: arquitetura futebolística, torcida e segurança pública”. Martin é integrante do “Nepess – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Esporte e Sociedade”.
Eu o conheci por conta do seu livro “Friedenreich – Das vergessene Fußballgenie” [o gênio esquecido do futebol], da editora alemã Werkstatt, cujo conteúdo traduzido pretendo que seja um anexo da autobiografia “Friedenreich – El Tigre”, que lanço finalmente em 2018 pela LivrosdeFutebol.
É que eu havia descoberto a autobiografia de Arthur Friedenreich no acervo de Milton Pedrosa, editor da Editora Gol (a primeira especializada em livros de futebol no Brasil), que herdei por gentileza família Pedrosa – eis que eu havia trabalhado com Carlos Pedrosa, filho de Milton, sócio da extinta Pubblicità Propaganda. Quando descobri que ele era filho do Milton, tratei de falar com ele sobre reeditar os excelentes livros do pai, dentre eles “Gol de Letra”.
A descoberta fez furor. Juca Kfouri anunciou “El Tigre vive!” em sua coluna na Folha de São Paulo e a imprensa esportiva logo se movimentou para saber a história. Leia a coluna do Juca: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk0307201110.htm
Então, fui procurado pelo repórter Guilherme Roseguini, do “Esporte Espetacular”, a quem concedi a entrevista que você pode assistir no vídeo ao lado:
O livro que Curi escreveu sob encomenda da editora alemã, para explicar como e por que um mulato brasileiro de olhos verdes se chama Friedenreich, me fez indicá-lo ao Darcio por conta do seu interesse em entrevistar Joachim Löw e Toni Kroos, sobre a goleada alemã.
No meio do papo com o alemão, com quem tive o prazer de degustar uma lauta e bela refeição no Escondidinho, restaurante do Beco dos Barbeiros, bem no Centro Velho do Rio de Janeiro, ele me falou de um livro alemão sobre o 7×1, sobre o qual ele escrevera uma resenha para o blog do Nepess.
A VISÃO GERMÂNICA DA GOLEADA HUMILHANTE
Foi assim que o professor Martin Curi analisou o livro “7:1 – Das Jahrhundertspiel”, de Christian Eichler:
“Quando vi anunciado a publicação do livro “7×1” na Alemanha, pensei imediatamente no livro “Anatomia de uma derrota” de Paulo Perdigão, sobre a derrota do Brasil contra o Uruguai em 1950.
Ambos escritos por jornalistas e se dedicam a um único jogo em uma Copa do Mundo que, na opinião dos autores, tem tanto significado que merecem ser analisados minuciosamente em 182 ou 286 páginas. E este também é um dos motivos pelo qual achei importante escrever uma resenha em português para uma revista científica, apesar do livro a ser resenhado não ter a proposta de ser científico. Mas o jogo analisado, o “7×1”, contou com a participação da seleção brasileira e, portanto, é importante para os brasileiros. Enquanto os brasileiros estão bastante familiares com os significados tanto da final de 1950, quanto da semifinal de 2014, o livro em questão promete fornecer algumas informações sobre o ponto de vista dos alemães. Portanto, gostaria de propor uma comparação entre os dois livros.
Pessoalmente, gosto muito do livro “Anatomia de uma derrota”, que junta vários documentos e dados sobre a final de 1950. Em capítulos separados, o autor explica para o leitor o contexto histórico da Copa, do jogo e da construção do Maracanã. Também é analisada a tática do jogo, inclusive com diagramas, o autor transcreve a narração do rádio e adiciona algumas fotografias. Logo na introdução, o autor afirma que a derrota do Brasil contra o Uruguai em 1950 foi a grande catástrofe para a nação brasileira, o mesmo afirma que essa derrota foi tão dolorosa que merece até uma análise psicanalítica. Ou seja, Perdigão logo parte para a busca dos significados deste jogo, tanto para ele quanto para o povo brasileiro em geral.
Confesso em um primeiro momento, certa decepção quando o livro alemão chegou à minha casa, devido a estrutura dele ser bem diferente. O autor narra apenas a semifinal de 2014, criando pequenos capítulos de uma a seis páginas, que se referem aos minutos um ao 90 do jogo. Não há diagramas que poderiam explicar o esquema tático, com exceção da escalação na contracapa, não há fotos e muito menos capítulos temáticos. Temia que o autor quisesse narrar o jogo, de fato, o que eu imaginava ser uma abordagem pouco interessante, porém me enganei.
Eichler costura análises táticas, reações midiáticas, informações biográficas dos envolvidos e anedotas curiosas na narrativa do jogo. Assim, a escrita do livro alemão me parece ser mais elegante e a leitura foi bastante agradável. Mesmo assim senti falta de um capítulo introdutório, que se dedica de forma mais profunda aos esquemas táticos dos dois times, que poderia ter estruturado melhor as explicações durante o livro. Por outro lado, acho que se dedica um livro inteiro a um único jogo, devido este jogo tem um significado cultural elevado. O autor dá pistas de quais poderiam ser estes significados, mas não afirma com clareza suas teses. Assim, o leitor precisa ficar muito atento para filtrar as informações que permitem uma reflexão. Por isso, gostaria de me dedicar nesta resenha a estes dois pontos.
Vamos começar com a questão do esquema tático das duas equipes. Eichler abre seu texto logo na quinta página, que é a primeira do texto, com a afirmação que no dia 8 de julho de 14 teriam se encontrado em Belo Horizonte duas linhas de desenvolvimento futebolístico: a linha ascendente do futebol racional, organizado, coletivo e moderno da seleção alemã, e a linha descendente do futebol emocional, individualista, arcaico, e ultrapassado da seleção brasileira.
Mas em seguida não explica o que significa para ele estes termos de futebol moderno e atrasado. A primeira reflexão em relação a escalação surge relacionada com a ideia de uma linha de defesa alemã com quatro zagueiros (p. 29) no começo do torneio, com o lateral Lahm à frente da defesa. Eichler descreve que o técnico alemão decide depois das oitavas de final recuar Lahm e, assim, mudar o esquema tático. O autor inaugura dessa maneira seu estilo de apresentar as análises táticas em pequenos pedaços.
A primeira menção de alguma jogada planejada e treinada acontece quando Eichler relata o primeiro gol de Müller (p. 37). Porém, ele não se refere a um esquema tático, e sim, apenas, uma situação de bola parada isolada da estratégia do jogo. Este padrão se repete em cada gol alemão. Ou seja, o autor destaca situacionalmente o que a seleção alemã fez bem e a seleção brasileira fez mal, sem inserir isso no esquema tático. Ele usa também as cenas de gol para destacar alguns jogadores, exibindo as suas qualidades (Müller, Klose, Kroos, Khedira, Lahm e Neuer) ou as suas falhas (principalmente David Luiz).
O autor percebe que o público brasileiro no Mineirão escolhe Fred como o vilão da derrota. O que ele não sabe é que depois do jogo, no debate público brasileiro, Dante se torna o maior culpado. Curiosamente, nestas discussões David Luiz foi bastante poupado. O autor alemão discorda disso e chama David Luiz de “sem controle”, “cheio de energia confusa” e “sem plano”. Em seu exemplo, Eichler constrói seu argumento do atraso futebolístico brasileiro, que confiaria de forma cega ou na superioridade futebolística natural ou em Deus. Desenhando assim a imagem de um fanático religioso sem ligação com a realidade.
Assim, Eichler constrói no decorrer do livro um esquema tático. Porém, acho que seria mais adequado começar o livro com um capítulo sobre o esquema tático, inclusive, utilizando desenhos para explicar a ideia geral de ambos os técnicos. O autor faz isso apenas uma vez, quando coloca a escalação na contracapa, aonde ele desenhou um esquema 4-3-3 com os três atacantes Özil, Müller e Klose. E esta afirmação é polêmica, porque muitos, inclusive eu, percebemos Özil e Müller como jogadores de meio de campo. Antes da Copa do Mundo, houve uma discussão na Alemanha sobre a falta de atacantes, aonde logo em seguida, Löw decidiu levar Klose, um atacante de 36 anos. Ninguém sabia se ele ainda teria forças para aguentar uma Copa do Mundo. Por isso, muitos alemães questionaram se seria possível ganhar uma Copa sem atacantes.
Por isso, se analisa que a seleção alemã jogou com cinco meio-campistas, que conseguiram mudar constantemente a posição entre si. Inclusive, Eichler cita várias vezes o site spielverlagerung.de que se dedica a análises táticas. Este site oferece vários diagramas das posições e defende que a Alemanha jogou com um 4-5-1. Esta discussão seria fundamental para o entendimento do jogo e para explicar o que Eichler entende com futebol moderno e atrasado.
Recordei-me de uma citação do famoso ex-jogador Sammer, que disse “Nós, alemães, não sabemos nada de tática”. Ele se referia a falta de discussão sobre esquemas táticos tanto nas escolas de técnicos, quanto em jornais. Não há o costume de discutir este assunto na mídia.
Pode ser que Eichler, que trabalha pelo jornal FAZ, não ousou se aprofundar e compactar mais esta temática, pensando no público alemão.
Chegamos ao ponto dos significados culturais do jogo. Eichler se mostra bastante informado em relação aos detalhes da história do futebol brasileiro, anedotas futebolísticas, comentários na imprensa brasileira, o contexto político do momento e traduz até gritos da torcida brasileira. Por exemplo, julga as palavras de ordem contra a presidente Dilma como obscenas e mal educadas.
Em certo momento do livro, cita Nelson Rodrigues, que afirmou que a Copa de 1950 teria sido o Hiroshima da nação brasileira e Carlos Alberto Parreira que comparou o 7×1 com o 11 de setembro. Ao invés de se perguntar por que estes brasileiros fazem este tipo de comparação, o autor julga as afirmações como exageradas e emocionais. Mas este teria sido o momento no qual ele poderia ter analisado um pouco mais porque tanto 1950, quanto o 7×1 são momentos tão difíceis para o Brasil. As citações indicam que estamos falando de mais do que “apenas” um jogo de futebol.
O tratamento que o autor dá a estas informações indica que ele separa claramente o jogo de outras esferas da vida social. E assim revela que o futebol é muito importante para a Alemanha, mas não tem o peso para a identidade nacional que tem no Brasil.
Voltamos para a comparação entre “Anatomia de uma derrota” de Paulo Perdigão e “7×1” de Eichler. Como já mencionado os dois livros tem muito em comum, mas a maior diferença é que enquanto Perdigão reflete sobre uma derrota, Eichler analisa uma vitória. De fato, é curioso como se discute no Brasil até hoje, principalmente, as derrotas de 1950 contra o Uruguai, de 1982 contra a Itália, de 1998 contra a França e provavelmente a partir de 2014 contra a Alemanha, e não as cinco conquistas de Copas do Mundo. Inclusive, sobre as duas primeiras existem muitos livros no Brasil.
Ao contrário disso, o acontecimento chave da história futebolística alemã é a vitória contra a Hungria em 1954. O próprio Eichler cita outros jogos considerados heroicos, como a vitória contra a Inglaterra em 1972 (na Eurocopa), contra a Holanda em 1974, contra a Argentina em 1990 e contra o Brasil em 2014. Há uma importante exceção que é a semifinal da Copa de 1970, na qual a Alemanha perdeu contra a Itália por 3×4, com cinco gols na prorrogação.
Qualquer torcedor de futebol alemão sabe que o termo “Jogo do Século” usado por Eichler no subtítulo, se refere tradicionalmente a este jogo. Mas em todos estes casos a narrativa alemã é que o adversário é gigante e que a vitória alemã tem que ser considerada um milagre da superação. Até na semifinal contra a Itália, a chegada à prorrogação foi considerada um exemplo dessa superação. O símbolo desse feito foi o braço machucado de Beckenbauer, que terminou o jogo com o braço amarrado ao tórax.
Todos estes adversários representam algo importante na história do futebol: a Hungria era considerada a melhor seleção da sua época com o craque Puskas, a Inglaterra como inventora do futebol e que nunca tinha perdido contra a Alemanha em casa, a Itália com seu catenaccio, a Holanda com Cruyff e o carrossel laranja, a Argentina com a mão-de-deus de Maradona e finalmente o pentacampeão Brasil. Na verdade, é curioso porque Eichler fala do futebol moderno alemão que seria organizado e coletivo, como se isso fosse alguma novidade.
Em todos os exemplos de superação, a narrativa é que um time alemão considerado inferior conseguia vencer um adversário supostamente superior por causa das suas qualidades coletivas e organizacionais.
Enquanto os outros jogos citados sempre terminaram com resultados bastante apertados: 3×2, 3×4, 3×1, 2×1 e 1×0, o jogo contra Brasil teve um placar bastante elástico. Assim, Eichler descreve em vários momentos do seu livro as reações dos alemães que expressam incredulidade. O jogo teria “surpreendido e sobrecarregado” (p. 5) os envolvidos e espectadores. O jogador-substituto Erik Durm teria dito “Nós no banco olhamos sem acreditar um para o outro: é realmente verdade?”.
Em seguida, relata que Philipp Lahm resume que os jogadores se prepararam para um adversário com a mesma qualidade e que seria um jogo necessário lutar até o último minuto. Mas o placar depois de 30 minutos teria causado mal-estar:
“Isso foi angustiante, eu não estava eufórico. Ninguém quer que o adversário faça erros que neste nível não acontecem”.
Eichler interpreta a reação dos jogadores alemães como uma mistura de incredulidade e humildade: “Os alemães então: bem alemão. Depois de um jogo para o diário das estrelas do futebol, quando outros teriam se lançado na órbita das emoções, eles estão com ambas as pernas no chão. Não falam muito de festejar, mas de trabalhar.”
Na opinião do autor esta seria uma qualidade alemã, ainda mais considerando que ainda faltava a final. Assim ele cita Löw, Klose e Neuer que teriam dito que a seleção precisava continuar trabalhando duro. Finalmente, o autor lembra mensagens no Twitter de Özil e Podolski, nas quais os dois jogadores mandam palavras de conforto para os brasileiros, como se quisessem se desculpar pelos acontecimentos
Mas o significado central do “7×1”, Eichler já indica na capa, onde ele escreve: “Quando o mito brasileiro quebrou e a quarta estrela da Alemanha acendeu”.
E acrescenta:
“Os jogadores brasileiros perdem nesta noite não apenas um jogo, mas o mito. Eles não têm atacantes, nem conquistadores, nem aventureiros. Apenas defensores inflexíveis e trabalhadores dedicados no meio de campo. Para isso não precisamos do Brasil. Estes jogadores se encontram em qualquer lugar”
Assim, podemos juntar os indícios que Eichler nos oferece em várias páginas do seu livro e suspeitar que o significado do “7×1” para os alemães é a destruição do mito brasileiro, ou seja, a imaginação de um país que tem o futebol artisticamente perfeito. Visto dessa maneira o resultado não é feliz. Um jogo com drama e luta, no qual se derrota o adversário superior com as qualidades de coletividade e organização teria sido mais desejável. Como isso não aconteceu, os envolvidos se mostraram bastante incrédulos.
O autor não entende a importância que o futebol tem para a construção da identidade nacional brasileira. Enquanto o futebol é um pilar fundamental na autointerpretação dos brasileiros, a mesma coisa não acontece na Alemanha. Os alemães são retratados pelo autor como pessoas humildes, com espírito coletivo e organização. Essas seriam qualidades nacionais que devem ser mostradas também pelos jogadores da seleção, mas se eles perdem ou ganham isso não afeta a autoestima nacional. Assim, as vitórias que poderiam evidenciar a superação alemã são a espinha dorsal da narrativa futebolística alemã e as derrotas surpreendentes são o fio condutor da narrativa brasileira.
Esta é uma tentativa de interpretação minha a partir dos indícios que eu encontrei no livro resenhado em comparação com o livro “Anatomia de uma derrota” de Perdigão. Senti falta que Eichler não começou seu livro com um capítulo dedicado a análise tática das duas seleções, nem terminou com um capítulo refletindo sobre os significados culturais do jogo. Mas gostei do livro por sua leitura fluida e elegante, que apresenta os dados que fizeram a presente análise possível.”
DARCIO RICCA FALA DO SEU LIVRO SOBRE O 7×1
Como historiador/analista das táticas do futebol (que resultaram no “Gorduchinha”), como você viu o 7×1, na hora em que estava acontecendo?
Na hora, o primeiro sentimento foi de “joguem pela honra e respeito ao adversário”, “não saiam de campo”, “voltem no intervalo”.
A que você atribui a derrota?
Resumidamente, falta de planejamento, desatualização tática, um “ano sabático” sentado no favoritismo, medo do fracasso em casa, falta de alternativas de jogo, ausência de estudo com improviso em adotar um plano de jogo ousado, escolhas equivocadas numa proposta tática defasada que se mostrou presente no Mundial “arrastado” da equipe até aquele dia. Ramires, Paulinho, William e, sobretudo, Hernanes, não poderiam ser opções no duelo contra o meio de campo alemão de forma tão desigual (Kroos fez dois gols e Khedira um – justamente no tal “apagão”), despreparo emocional desde a partida contra a Croácia, do gol contra de Marcelo em Itaquera até o choro sentado na bola do capitão Thiago Silva, ufanismo, “oba-oba” e “pachecada” oportunista.
Passados três anos da derrota, alguma coisa mudou no seu pensamento?
Pouca coisa mudou, apesar de técnicos jovens e de mente aberta, estudiosos – como Jair Ventura, Eduardo Baptista, Zé Ricardo, Fernando Diniz – estejam tentando mudar esta situação juntamente com os mais experientes Cuca e Milton Mendes, capitaneados pela força e preparo do atual treinador da seleção brasileira Tite. A preocupação com o “oba-oba’ sempre vai existir, mas Tite parece ter a humildade que o diferencia, e muito, dos demais.
O que o levou a querer falar do 7×1? “Anatomia de uma derrota”, do Paulo Perdigão, sobre a derrota na Copa de 1950, tem a ver com isso?
“Anatomia de Uma Derrota“ é uma obra que deve ser homenageada sempre, além de inspiradora por tratar de uma tragédia e no Brasil, numa determinada época. Se no Sarriá, em 1982, foi o “Dia da Tristeza”; se, em 1950, foi o “Dia da Tragédia”, por que não falar do “Dia da Vergonha”, buscando inspiração em “Anatomia de Uma Derrota“?
Evidente que é preciso atualizá-las no tempo, espaço e numa situação que ninguém quer falar, criando-se mitos, desculpas, raiva e desprezo. São os sentimentos que percebemos diante do dia 8 de julho 2014 e até no dia seguinte, na coletiva de imprensa.
Este livro que estamos escrevendo é para que nossa memória, de dados e afetiva, não fique órfã e que possamos tirar o melhor proveito disso para crescermos no futebol e na vida.
Quais semelhanças/diferenças você vê entre o 7×1 e outras derrotas históricas do futebol brasileiro – Maracanazo, 1974, 1982?
A falta de preparo para o jogo, menosprezando o adversário, alimentados com “oba-oba” de conquistas passadas (em 1974) e excesso de confiança em não se preparar para um plano alternativo específico para o jogo, mutante quando necessário (em 1974 e 1982), e ufanismo e cobrança (em 1950), apesar do carinho nos princípios de Telê Santana em detrimento à arrogância do Zagalo de 1974, diferente da genialidade humilde de 1970, que João Saldanha iniciou.
Como se deu o encontro de ideias e ideais que motivou você e Max Gehringer a firmarem esta parceria para escrever um livro sobre o 7×1? Vocês têm ideias semelhantes ou divergentes sobre a derrota?
A ideia inicial foi minha. E por pensarmos futebol de uma maneira semelhante, eu o convidei para esta empreitada. Até porque, guardadas as enormes diferenças entre as carreiras, eu e Max somos da administração de empresas e, com isso, podemos emprestar um olhar e uma reflexão diferenciadas sobre a imprensa esportiva à qual não pertencemos. Somos amantes da pesquisa bem feita. Eu sou o tático-pesquisador; e o Max, meu saudável contraponto de historiador e curioso pesquisador. Nossa relação se construiu no Memofut – Grupo de Literatura e Memória do Futebol. Foi dele a primeira palestra que assisti e que me levou a conhecer o grupo; e se constrói na complementariedade neste caminho para deixarmos um legado à historiografia do futebol brasileiro.
Qual o enfoque que vocês pretendem dar ao livro?
O jogo – antes, durante e depois, minuto a minuto, o dia seguinte. E, retrocedendo, para efeitos de linha do tempo, desde a demissão do bom trabalho que vinha fazendo Mano Menezes (era preciso ter mais paciência, e não tiveram!) até a Copa das Confederações, o Mundial em seu certame e organização. Sempre tendo por base o jogo dos 1×7 (creio que é assim que deve ser chamado).
A história e os acontecimentos, desde 2013 até hoje, serão a conexão e a possível similaridade com cada gol da Alemanha que sofremos antes, no jogo e até hoje, num eterno aprendizado em que muitos se recusam a se “sentar novamente nos bancos da história da vida”.
Como ele será estruturado? Como serão os capítulos, quais serão as abordagens etc.?
Estamos preparando um grande surpresa em todos estes aspectos. Do jogo, minuto a minuto, às suas consequências e a linha do tempo antes e depois. [N. do A.: Darcio Ricca e Max Gehringer preferem nos fazer esperar pelas surpresas!]
Como vocês estão (com)partilhando o trabalho?
Estamos produzindo juntos e com a liberdade de um interferir no conteúdo do outro, parceria pura.
Qual o prazo que vocês se deram para escrever o livro? Qual é a ideia de lançá-lo?
Pretendemos lançá-lo antes da Copa de 2018. Estamos com a produção bem evoluída e, agora, selecionamos editoras que apostem no projeto.
[N. do A.: Embora a LivrosdeFutebol tenha sido a editora do Darcio Ricca em seu primeiro livro (“De Charles Miller à Gorduchinha”, de 2014), Max Gehringer é um autor consagrado, que lança seus livros – de administração, carreiras e futebol – por editoras poderosas e consagradas, como Globo e Saraiva. De maneira discreta, a LivrosdeFutebol está oferecendo parceria aos autores, deixando especialmente Darcio Ricca à vontade para decidir o que for melhor para ele e para o livro].
ANATOMIA DE UMA DERROTA
Segundo André Ribeiro, jornalista e escritor, biógrafo de Leônidas da Silva e Telê Santana, editor do excelente blog “Literatura na Arquibancada”, o livro é a mais completa obra sobre a fatídica derrota brasileira, na primeira Copa disputada no País, em 1950.
Interessante notar que, em uma coluna sobre “Anatomia de uma derrota”, André alertava, premonitoriamente:
“Um livro obrigatório, para todos os tipos de leitores: torcedores, jornalistas, pesquisadores e até mesmo jogadores e comissão técnica da seleção brasileira que irá disputar a Copa 2014”.
Veja a resenha completa de “Anatomia de uma derrota” em http://www.literaturanaarquibancada.com/2014/04/anatomia-de-uma-derrota.html
SOBRE PAULO PERDIGÃO
Paulo Perdigão
Paulo Perdigão (1939-2006) foi filósofo (especialista em Jean-Paul Sartre), jornalista e cinéfilo, e um importante crítico de cinema (nos jornais Diário de Notícias, O Globo e Jornal do Brasil). Baseado no seu livro mais famoso, os cineastas Ana Luiza Azevedo e Jorge Furtado produziram o curta-metragem “Barbosa”, de 1988 (estrelado por Antonio Fagundes), em que – sonho de consumo dos boleiros brasileiros – um torcedor atormentado com a derrota brasileira em 1950, consegue voltar no tempo para tentar evitar o segundo gol uruguaio, o famoso “Gol do Ghiggia”.
Não dá para deixar de fazer uma analogia entre Paulo Perdigão e Max Gehringer, no sentido de eles serem consagrados em suas carreiras – Paulo, como jornalista e importantes crítico de cinema; Max, como consultor de administração de empresas e carreiras – ambos com trabalhos fundamentais para a historiografia do futebol brasileiro, paixão adicional em suas vidas.
PARA APRENDER COM AS DERROTAS
· “Queimando as traves de 50”, de Bruno Freitas (iVentura)
· “Dossiê 50”, de Geneton Moraes Neto (Maquinaria)
· “Barbosa, um gol silencia o Brasil”, de Roberto Muylaert (Bússola)
· “Maracanazo, a história secreta – da euforia ao silêncio de uma nação”, de Atilio Garrido (Livros Ilimitados)
ASSISTA O CURTA METRAGEM “BARBOSA”
Clique aqui https://www.youtube.com/watch?v=zRiYdAxmF0E
MOACIR BARBOSA NO JÔ SOARES
Clique aqui: https://www.youtube.com/watch?v=k9UNPfvjYP4
O herói. O anti herói. O vilão.
por Mateus Ribeiro
O último recurso.
A última esperança.
O melhor amigo.
O pior inimigo.
O paredão.
A resistência.
A segurança.
Goleiro. Aquele que constrói e destrói sonhos.
Goleiro. O ser diferenciado que com as mãos consegue fazer história em um esporte praticado com os pés.
Goleiro. Aquele que se suja, que voa, que faz pose, que é capa do jornal do dia seguinte.
Goleiro. Aquele que você agradece. E minutos depois xinga.
Aquele que amamos e odiamos. Mas que na maioria das vezes, e hoje, é nosso herói.
Pequena homenagem a quem tanto nos fez sorrir. E chorar. Seja de alegria ou tristeza.
MANGA, O MAIOR DE TODOS
texto: André Felipe de Lima | fotos: Severino Silva
Hoje, dia 26, é o Dia do Goleiro. Oficializada em 1976, a data é uma homenagem ao grande e inigualável Haílton Corrêa de Arruda, o memorável Manga, indiscutivelmente o melhor goleiro da história do Sport, do Botafogo, do Internacional e (para muitos uruguaios) do Nacional de Montevidéu.
Hoje, no dia daqueles que são os guardiões das metas dos nossos times, ora execrados, ora mitificados como deuses, o eterno Manga comemora mais um ano de vida. A nós, reles mortais, agradecemos ao Manga por tudo o que ele representa para a história do futebol brasileiro.
“Eu não tinha medo, era corajoso. Quando eu quebrava um dedo, o doutor me engessava e em três ou quatro dias eu já estava jogando de novo. Por isso, eu tenho quase todos os dedos tortos. Essas são as marcas do meu trabalho. Tenho um orgulho muito grande do que fiz na minha carreira. Sempre fiz o melhor, mesmo que estivesse machucado”, disse Manga, em 2003, ao jornal Lance.
Obrigado, Manguita, por nos conceder a honra de sermos seus fãs! Obrigado ídolo!
ADO, DO BANGU: ‘UM PÊNALTI EM MINHA VIDA’
por André Felipe de Lima
(Foto: Reprodução)
Toda a família do paraibano Miraldo Câmara de Souza, o ponta-esquerda Ado, estava no estádio do Maracanã naquela noite de 31 de julho de 1985. Menos dona Doralice Câmara, mãe de Ado, uma das personagens mais emblemáticas daquela jornada futebolística. Foram todos torcer pelo rapaz, que defendia as cores do Bangu na final da antiga Taça de Ouro — a polêmica taça das bolinhas, que representava o campeonato nacional da época — contra o Coritiba. No cômodo escuro da casa em obras, dona Doralice torcia pelo filho com o ouvido colado no rádio. Relutava assistir ao jogo pela TV. Optara pelo que menos lhe faria sofrer, mas o que apenas o áudio lhe reservara foi suficiente para desenhar em sua mente a cena da dor que acometera o filho.
Ado entrou para a história do Bangu como um dos melhores jogadores que pisaram no gramado do estádio de Moça Bonita. Fato do qual nenhum conhecedor da recente trajetória do futebol carioca discorda. Alguns o elevam ao patamar de herói banguense, o que acredito ser a melhor tese, outros, em menor número, definem Ado como um craque, porém “azarado”, que, após cobrar um pênalti de forma displicente, tirou do Bangu aquele que seria o maior título da história do clube, o de campeão brasileiro de 1985.
Quase cem mil pessoas lotaram o Maracanã naquela fatídica noite para verem o Bangu disputar a final da Taça de Ouro. O time de Moça Bonita dirigido pelo técnico Moisés, ex-zagueiro do próprio Bangu, era sensacional. Do goleiro Gilmar ao ponta-esquerda… Ado.
O tempo normal terminou 1 a 1, com o Bangu dominando o tempo inteiro. Na prorrogação não foi diferente. Só dava Bangu. Mas o ataque foi ineficiente [ou a defesa do Coritiba, vá lá, com inteira justiça, muito boa]. A verdade é que a decisão foi mesmo para os penais. Na primeira série, todos os cinco cobradores de cada lado converteram seus pênaltis. Seria a vez das cobranças alternadas. Um a um, de cada time. Quem assinalasse o gol e o adversário perdesse o seu penal, levaria a taça. Gomes marcou para o Coritiba, mas Ado, o escolhido pelo técnico Moisés, chutou para fora.
O ponta-esquerda escolheu o canto certo, com o goleiro Rafael, pulando para um lado e a bola indo para o outro. Indo para fora sem resvalar a trave direita do arqueiro. Ado perdera a chance de pelo menos dormir em paz. E feliz. Talvez sob a maior felicidade que teria em toda a sua brilhante carreira vestindo a camisa do Bangu. “Me vendam, me vendam, por favor. Eu não posso mais enfrentar a torcida do Bangu. Estou arrasado, o destino não pode ser tão cruel assim comigo. Como posso voltar a encarar as crianças de Bangu, sendo o culpado pela derrota? E a minha família. Minha mãe, meu pai, a todos eu peço perdão, sei que eles vão me consolar quando eu chegar em casa, mas, na minha carreira, vai ficar para sempre esta marca. Nunca mais vai me abandonar. É terrível, não posso acreditar que esteja sendo protagonista desta tragédia.”
Tentando consolá-lo, o meia Mário, que também chorava copiosamente, abraçou-o. “Ado, vamos em frente, a nossa jornada ainda não terminou. O Bangu vai voltar a ser novamente grande no Campeonato Estadual. E nem este juiz poderá nos prejudicar desta vez. Foi ele e não você quem perdeu o jogo.”
Mário estava certo. Aquele grande time do Bangu ainda brilharia naquele inesquecível ano… e o maioral do Bangu, o banqueiro do jogo do bicho Castor de Andrade, decidira que Ado permaneceria no clube. Seria loucura negociar o passe de um jogador como ele. Castor estava coberto de razão.
(Foto: Reprodução)
Muitos anos depois, Ado, em entrevista ao canal SporTV, declarou: “Quando acabou o jogo eu tirei a meia, a chuteira e falei com o Moisés [técnico do Bangu] que não queria bater, pois estava sentindo uma dor no tornozelo e isso estava me incomodando um pouco. Eles escolheram o Israel para bater. Naquele momento eu pensava que eu seria o cara mais certo para bater o pênalti, pois eu estava muito confiante também. Quando eu estava chegando na bola, que eu olho pro goleiro, ele já estava caindo onde eu ia bater mesmo. “Vou virar o pé um pouquinho que ele não vai nem chegar na bola”, pensei. Só que eu virei demais. Eu tenho esse sentimento de que não dei o que as pessoas queriam de mim”. Ironia do destino foi ter sido Ado escolhido como o melhor em campo daquela decisão antológica. Mas nada atenuava a dor pela derrota.
Como descreveu o repórter Jorge Perri, o Monza de Ado dobrou a esquina da casa de dona Doralice, às três da madrugada, após a final no Maracanã. Lá o esperavam mais de 50 pessoas, que cantavam o hino do Bangu e o abraçavam. Uma cena emocionante, que levou Ado às lágrimas. Da boca da mãe campinense, que foi quem o autorizou a ir ao Madureira, quando tinha 10 anos, para dar os primeiros passos no futebol, ouviu a força de que precisava. “Meu filho, você não fez nada de que possa se envergonhar. Os seus amigos estão aí fora para mostrar que respeitam a dor. Eu sei que o destino foi cruel, mas tem sido tão bom que às vezes pode até pregar uma peça que ainda temos saldo. O que vale é a compreensão, e a amizade. Levante a cabeça e vá ao Bangu certo de que tudo que aconteceu é coisa que não se pode remediar. Eu nunca entrei num campo de futebol, mas se você quiser, eu vou até Moça Bonita para mostrar que nós sabemos encarar de frente as horas amargas.”
Apesar de todo o carinho e conforto que recebera, Ado, desgostoso, pensara em abandonar o futebol. Temia pela situação da família. Afinal, como contara à repórter Marcia Vieira, gastara por conta na reforma da humilde casa dos pais, que ficava na rua Sá Freire, 28, na zona norte da cidade, confiando piamente no gordo “bicho” que receberia caso o Bangu levantasse a taça nacional. “Tínhamos uma casa muito ruim e pensando no prêmio que o Castor prometeu, reformei-a. Quando chegou a conta não tinha como pagar. Mas pedi ajuda ao Castor [de Andrade], que foi mais que um pai e me ajudou”.
Na manhã do dia seguinte ao jogo contra o Coritiba, Ado tomou café com a mãe e a sobrinha Priscila, então com três anos, que esteve no Maracanã. Recebeu o carinho de amigos e de familiares. Em seguida, rumou para o escritório de Carlinhos Maracanã, seu padrinho. Vários telegramas chegaram a Ado. Um deles, o comoveu mais: “Um homem não se deixa vencer por um pênalti perdido. Vá em frente. Você é grande. Assinado, Pedro, seu ex-preparador físico no Madureira”.
(Foto: Reprodução)
A vida seguiu para o Bangu e para Ado. Com o Campeonato Carioca de 1985, iniciado logo após a final da Taça de Ouro, o Alvirrubro esperava retomar o caminho das vitórias. E o fez com sucesso. Embora não tenha conquistado nenhum dos dois turnos da competição, foi o time que mais somou pontos ao longo do campeonato, feito que o garantiu na decisão contra Flamengo e Fluminense. O primeiro tombou diante do forte time banguense. Com um inapelável placar de 2 a 1, o time de Moça Bonita garantira a vaga para decisão contra o Tricolor das Laranjeiras.
No dia 18 de dezembro, os dois times entraram em campo no Maracanã, com cerca de 90 mil presentes, para disputarem um jogo tumultuado. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Marinho abriu o placar para o Bangu, nitidamente superior ao Fluminense. Uma a zero seria pouco. Era preciso alargar o placar para o Bangu tocar a bola, gastar o tempo, e, enfim, levar para Moça Bonita, o tão almejado troféu carioca.
Após um ataque avassalador de Marinho e companhia, Ado perdeu aquele que costumamos chamar de “gol feito” após cabecear a bola para fora do arco do goleiro Paulo Victor. Talvez Ado fizesse aquele gol e a história seria outra. Nem mesmo o clamoroso pênalti do zagueiro Vica em Cláudio Adão, não marcado pelo juiz José Roberto Wright, no final da peleja, influenciasse o resultado final do jogo. O Tricolor virara o placar para 2 a 1 e, mais uma vez naquele fatídico ano de 1985, o Bangu de Ado deixara escapar um importante título. Daquele ano, Ado guardara um único momento de prazer ao ser escolhido pela premiação “Bola de Prata”, organizada pela revista Placar, como o melhor ponta-esquerda do Campeonato Brasileiro. Além dele, os companheiros Baby [volante] e Marinho [ponta-direita] também receberam o prêmio, sendo o segundo o vencedor da “Bola de Ouro”, de melhor jogador da competição.
(Foto: Reprodução)
A história de Ado no Bangu não pode ser apenas medida pelas perdas dos dois campeonatos de 1985. Ele foi, indiscutivelmente, um dos melhores jogadores que o Bangu já teve em suas fileiras. Zizinho, por exemplo, um dos maiores craques de todos os tempos do Flamengo e também do Bangu, jamais levantou um troféu de expressão pelo clube de Moça Bonita. Mesmos assim é ídolo dos dois clubes. Ou seja, como reza o dito popular, “pau que dá em Chico, dá em Francisco”. Levando em consideração as devidas proporções do futebol de um para o outro, Ado fez tanto pelo Bangu quanto Zizinho, que — justiça seja feita — foi infinitamente melhor jogador que o ex-ponteiro. Mas Ado foi um jogador singular naquele ano. “Meu jogo inesquecível foi Bangu x Brasil de Pelotas, no Maracanã, quando fiz um gol que garantiu o time na final [da Taça de Ouro]”. Ele se esforçou [e muito!] para elevar o Bangu e colocá-lo entre os melhores times do Brasil daquela época, sendo fundamental nas conquistas da President´s Cup [1984], na Coréia do Sul, e da Taça Rio [1987], segundo turno do Campeonato Carioca.
Ado, que nasceu em Campina Grande, no dia 25 de abril de 1963, chegou ao Bangu após uma negociação com o Madureira. Em janeiro de 1984, na arquibancada do estádio Proletário, em Bangu, o patrono do clube, Castor de Andrade, durante um treino monótono do time, conversava com o técnico Moisés quando chegou Carlinhos Maracanã, então diretor de futebol. “Toma Castor, é um presente para o Bangu. Custou só Cr$ 10 milhões. No futuro, não vai ter preço.”
Castor indagou: “Afinal, Carlinhos, o que é isso?”. Como resposta, ouviu: “É o passe do ponta-esquerda do Madureira, o Ado. Já pedi a você para comprar o garoto várias vezes. Como nunca tive resposta, resolvi eu mesmo fazer esta oferta ao nosso clube.”
Castor, no começo, não levou muita fé no “presente” de Carlinhos Maracanã. O rapaz tinha 1,65 metros de altura e pesava cerca de 56 quilos. Do infantil ao profissional, os adversários de Ado debochavam do porte físico dele. Alguns o chamavam até de “caveira”. Ado respondia com um festival de dribles desconcertantes [e humilhantes]. Era esse o seu estilo.
A estreia no Bangu, segundo dados do pesquisador Carlos Molinari, aconteceu no dia 15 de janeiro de 1983, contra o Bonsucesso. O placar foi 3 a 0 para o Alvirrubro.
Entre 1983 e 1997, Ado vestiu a camisa do Bangu em 258 jogos, obtendo 123 vitórias e 85 empates e assinalando 32 gols. No jogo do Bangu contra o Americano, de Campos, disputado no dia 31 de maio de 1997, Ado encerraria sua jornada em Moça Bonita.
No período em que defendeu o Bangu, o ídolo alvirrubro também atuou no Internacional, de Porto Alegre, em 1988, e no Sporting Clube de Espinho, de Portugal, de 1987 a 1994. “O Castor tentou me trazer para a final do Carioca, mas não conseguiu. Ele se arrependeu da venda. Mas para mim foi muito bom financeiramente. Minha mulher gostava e os torcedores tinham muito carinho por mim. Fui muito feliz lá”.
Depois do Bangu, em 1997, Ado persistiu nos gramados ao jogar pelo Ceres, pela Portuguesa [RJ], no Peru, na Indonésia e pelo Campo Grande, onde, enfim, com mais de quarenta anos, encerrou sua carreira. Mas o “fantasma” do pênalti de 1985 nunca mais o abandonou, mesmo quando decidiu assumir a carreira de técnico, com passagens, inclusive, pelo futebol árabe: “Quando alguém perde um pênalti sempre tem um amigo que diz, tá vendo, é normal, os jogadores perdem… mas não é a mesma coisa. Eu não me perdoo até hoje”, declarou, com olhar marejado e voz embargada, à Marcia Vieira.
Tal como os ídolos Barbosa, Bigode, Danilo, Juvenal Amarijo, Zizinho e Ademir de Menezes, que sofreram até o último suspiro a dor pela derrota na final da Copa de 1950, Ado nunca mais conseguiu rever a cobrança daquele pênalti. Rever o seu ocaso. “Não passa… é difícil virar essa página […] Foi um dos castigos mais doídos da minha vida”.