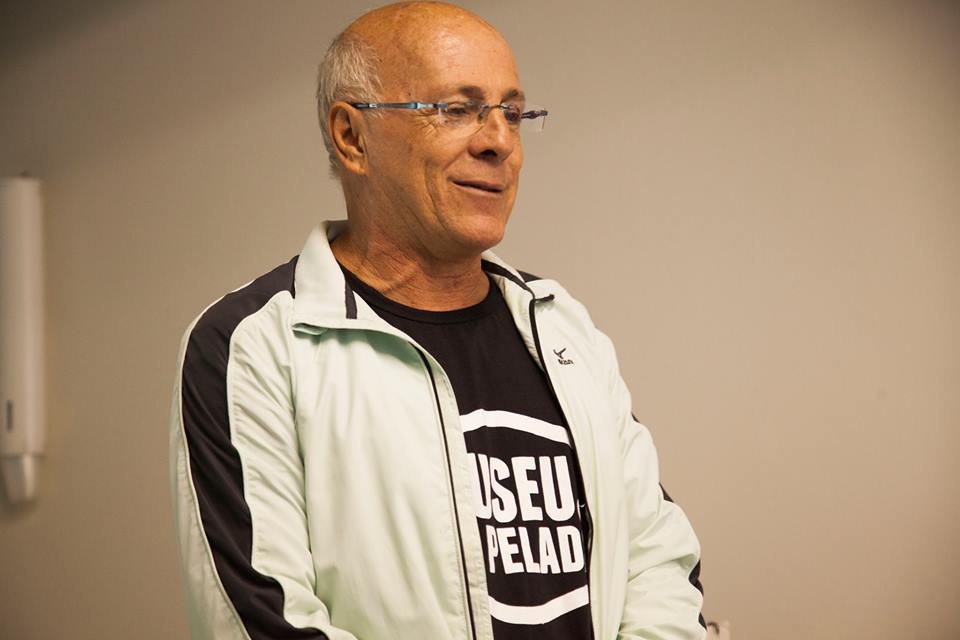UMA MÁQUINA NA MÃO, UMA FRUSTRAÇÃO NA CABEÇA
por Zé Roberto Padilha
Zé Roberto Padilha
Cheguei ao Flamengo levando junto do Fluminense, em 1976, o maior lateral-direito em atividade do país, Toninho Baiano. Leovegildo da Gama Júnior, então titular da camisa 2, recebeu do nosso treinador, Carlos Froner, uma dica: ou vai se adaptar na lateral esquerda e disputar a posição com Wanderley Luxemburgo (o titular, Rodrigues Neto, tinha ido para o Fluminense no troca-troca) ou sentar no banco de reservas. Júnior aceitou o desafio e se adaptou tão bem à nova posição que chegou à seleção brasileira.
Na concentração, reparei a quantidade de saladas que seu prato continha, chamava a atenção diante de outros, como o meu, não tão politicamente saudáveis. Como todos ali que jogavam por amor à camisa, que nem tinha patrocínios, Júnior abriu mão das noitadas. Treinava de dia na Gávea e à tarde corria nas areias fofas de Copacabana. Sua renúncia e cuidados foram longe, se tornou o jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra em jogos oficiais: 865. Só quem se cuida muito conseguiria alcançar patamares que Adriano, Ronaldinho Gaúcho e os integrantes do Bonde da Stelinha nem sonharam chegar.
E é sobre este exemplo de desportista, ilustre cidadão carioca e meu amigo que dedico esta crônica. Pois na semana passada postaram no Facebook cenas de sua intimidade. Num restaurante cercado de amigos e admiradores, bebeu um pouco mais. Tinha direito, era dia de folga na Rede Globo onde nos brinda com o melhor e mais imparcial dos comentários. Todos já bebemos acima do normal e nossas mulheres nos levaram em segurança para casa. Mas entre o ídolo, sua privacidade e os seus admiradores, havia a postos no local um jogador frustrado de plantão. Com uma máquina na mão, uma inveja na cabeça, um sonho inalcançável de ter sido jogador de futebol, registrou tudo. E jogou na rede.
Até a invenção da Internet, recalcados e frustrados sofriam, afinal, em que lugar poderiam expor suas fraquezas sem serem percebidos? Daí veio a rede social a lhe estender a tela, palco e o anonimato onde poderiam postá-las, compartilhá-las com outros recalcados que passariam frustrações à frente. Não conhecemos quem gravou a cena, mas quem o fez tem o perfil daqueles que sempre se incomodaram com a luz que Júnior irradia, carregando atrás de si cidadãos carentes de ídolos e a procura de um autógrafo, uma foto, um registro seu para a história.
O recalcado da vez não deve ter passado de um jogador qualquer no Aterro do Flamengo. Não sabe onde fica Pescara, e do Estádio Sarriá, em Barcelona, nem passou por perto. Nem que fosse para sofrer junto com a gente. Sua vingança por não ser famoso e tão bom de bola acabou no exato instante em que o Flamengo, 48 horas depois, entrou em campo contra o Bahia e o nome e rosto do Júnior na bandeira, imortalizada ao lado da do Zico, foi erguida com orgulho outra vez pela torcida na Ilha do Urubu. E vai ser sempre assim. Quando uma nação tomba um monumento seu como patrimônio histórico e esportivo, melhor os frustrados de plantão recolherem suas câmeras. E retornar às selfies com que vão revelando, a cada dia, o tamanho da sua mediocridade.
OS DOIS LADOS DA BOLA
por Marcos Vinicius Cabral
Quis o destino que os “Deuses do Futebol” tornassem o ano de 1974 marcante para Wemerson Lins Brum e Leovegildo Lins Gama Júnior.
No mundo ludopédico, tradicionalmente conhecidos como Lins e Júnior.
Foi em janeiro de 1974 que o recém-nascido Lins dava, no Hospital São Paulo, no Ingá, em Niterói, seu primeiro choro em vida.
Havia em Dona Elza, sua mãe, alegria em acordar nas madrugadas para amamentar e trocar suas fraldas, pois o pequeno Lins era a realização de um sonho dela com seu esposo Moacyr.
Em dezembro do mesmo ano, um certo Júnior marcava um golaço do meio-campo, na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o América.
O gol em si – precedeu o título carioca em um empate sem gols contra o arquirrival Vasco da Gama – foi marcado no Maracanã e percorreu alguns bairros como Tijuca, Cidade Nova, Praça Mauá, Glória, Flamengo, Botafogo, até chegar em Copacabana, onde Dona Vilma pulava de alegria com o primeiro de muitos triunfos do filho, camisa 4 e lateral-direito do Flamengo.
Se havia um brilho ímpar nos olhos das progenitoras dos predestinados filhos, as emoções em trocar uma simples fralda ou amamentar na madrugada, assim como o gol antológico ou o título logo no primeiro ano como profissional em uma noite iluminada no Estádio Mário Filho, representariam para elas um orgulho imensurável.
A vida seguia seu fluxo normal e ao ganhar pela primeira vez um presente especial das mãos de seu pai, seu Moacyr, o pequeno Lins entenderia aquele gesto paterno como um mandamento: amar a bola sobre todas as coisas.
Foi a primeira vez que, com os olhos marejados, seu Moacyr ficou emocionado com o sorriso sincero e inocente de seu filho.
Já Júnior, então com 22 anos, jogaria sua primeira e única Olimpíada, a de Montreal, no Canadá, na lateral-esquerda.
Contudo, dois anos depois, acabou tendo uma grande decepção ao ser preterido pelo técnico Cláudio Coutinho, que optou em improvisar o tricolor Edinho na lateral-esquerda, na Copa do Mundo da Argentina, em 1978 e não levá-lo ao Mundial na Argentina.
Mas apesar do ato imperdoável de um dos maiores treinadores do Clube de Regatas do Flamengo, os rubro-negros sabem que “herrar é umano”.
Já no fim daqueles anos, o pequeno Lins passou a ser chamado carinhosamente na infância de “Merson”, por ter sido uma criança dócil e benquisto pelos moradores da Rua Benjamin Constant, no Barreto em Niterói.
E Júnior, ganhava dos companheiros de clube e da imprensa carioca, o apelido de “Capacete”, por ostentar um cabelo estilo “Black Power” (movimento representado pelo orgulho racial que teve início nos anos 20 mas ganhou notoriedade durante o período dos direitos civis no final dos anos 60).
Na abertura da década seguinte e na mais prolífera do vermelho e preto, o ano de 1980 traria importância às vidas de Lins e Júnior.
Se os jogos do Flamengo, transmitidos pela Rádio Globo, na voz marcante de Waldir Amaral, criador do “Galinho de Quintino” – que acompanha Zico até os dias de hoje – eram a única forma de acalmar o espevitado Lins, que dava trabalho aos seus pais com suas peraltices inimagináveis, Júnior sagrava-se campeão brasileiro pela primeira vez, em um Maracanã apinhado de 154.355 rubro-negros.
Ao assoprar o apito com veemência, decretando o fim da partida, o árbitro José de Assis Aragão tornaria aquele épico Flamengo 3 x 2 Atlético Mineiro, a primeira alegria a nível nacional de Lins como torcedor e de Júnior como jogador.
Talvez tenha sido e permanecido até hoje, a maior rivalidade de dois gigantes do futebol brasileiro, oriundos de estados diferentes.
Alguns anos passaram e em 1984, com 10 anos, Lins foi parar no Praia Clube, em Niterói, para ser lapidado pelo “professor”Jair Marinho (lateral-direito reserva de Djalma Santos, na Copa do Mundo do Chile, em 1962), que viu qualidades no menino franzino.
E Júnior, já consagrado com três Brasileiros, alguns Cariocas, uma Libertadores, um Mundial e a Copa do Mundo de 1982, como cereja do bolo de uma belíssima carreira, desembarcava na Itália.
O camisa 5 do Flamengo aceitou uma oferta do Torino-ITA de dois milhões de dólares para jogar no duro “Calcio Italiano”, com 30 anos e pensando no futuro, pediu ao técnico Luigi Radice para ser deslocado ao meio de campo, a fim de se preservar mais fisicamente e pôr em prática sua visão de jogo privilegiada.
Com um futebol envolvente, a idolatria ao craque ficou ainda maior perante os torcedores, principalmente após os casos de racismo e preconceito de “pseudotorcedores” rivais.
Na partida contra o Milan, no San Siro, Júnior foi alvo de xingamentos e cusparada e, contra o Juventus, foi vítima de faixas racistas.
À procura de um lugar ao sol em solo brasileiro por onde pisam pés apaixonados e sofridos pela bola, o zagueiro Lins enfrentou os obstáculos como qualquer garoto de sua idade.
Acabou, com muita determinação, percorrendo um árduo caminho nas andanças pelos clubes.
Vestiu camisas como a do Palmeiras de Niterói e do Caramujo, ambos pela categoria infantil e adquiriu experiência para alçar voos maiores.
E na terra do Coliseu, com uma cabelo mais moderado e um futebol cada vez mais encantador, Júnior desfilava seu talento nos gramados italianos.
Pelo Torino, clube fundado em 1906, enfrentava jogadores do quilate do francês Platini, do polonês Boniek e do italiano Paolo Rossi na Juventus; dos brasileiros Edinho e Zico na Udinese; dos brasileiros Alemão, Careca e do argentino Maradona no Napoli; do italiano Baresi e do trio holandês Rijkaard, Gullit e Van Basten no Milan; do brasileiro Falcão e do italiano Conti no Roma; do brasileiro Cerezo e do italiano Vialli no Sampdoria; do trio alemão Matthäus, Klinsmann e Rummenigge no Internazionale e mesmo assim, se tornou em 1985 o melhor jogador do Campeonato Italiano.
O ex-camisa 5 do Flamengo já era considerado um “Maestro” pelos italianos.
E o Lins, no Campeonato Niteroiense, era eleito por três vezes como o melhor jogador, nos anos de 1986, 1987 e 1988, coincidentemente nos anos em que sagrava-se campeão.
Como se vibrassem com um título, os torcedores do Pescara – apesar de nunca terem visto seu clube dar uma volta olímpica – receberiam de braços abertos a nova contratação naquele 1987: Júnior.
Os desafios eram maiores e no segundo ano de clube, apesar de não ter conseguido ajudar a equipe a manter-se na primeira divisão, ele foi eleito o segundo melhor estrangeiro da Série A, ficando à frente de grandes jogadores.
Nada mal para um jogador prestes a completar 35 anos e jogando em uma equipe modesta.
No entanto, em 1989, Júnior resolveu atender a um pedido de seu filho Rodrigo, então com 4 anos à época, de voltar ao Brasil.
O menino, que sonhava vê-lo jogando no Maracanã com o manto rubro-negro, havia cansado de ver no vídeo-cassete, as fitas VHS com os gols do Zico pelo Flamengo, que o “Galinho” mandava para o garoto ver.
Mesmo assim, reconhecendo sua importância para o clube da cidade de Pescara em Abruzzo, em sua despedida do futebol italiano, recebeu uma bela homenagem: uma partida entre as seleções de Brasil e Itália, revivendo a “Tragédia do Sarriá”, em gramado italiano dessa vez.
No mesmo ano, Lins ia escrevendo sua história com destaque nas categorias mirim e infantil do Flamengo, levado por seu Moacyr nas peneiras (testes nas escolinhas de futebol dos clubes) no Fundão e Cocotá na Ilha do Governador, em Jacarepaguá e por fim na Gávea.
Ficou apenas um ano no Flamengo, seu clube de coração e divagou como uma estrela solitária em busca de se firmar no cenário futebolístico, indo parar no Botafogo, onde ficou apenas três meses.
Muitos reconheciam seu futebol e foi parar no Olaria a convite de um amigo.
Percorreu o Brasil, jogando no Estrela do Norte Futebol Clube (ES), Paraná Clube (PR) e chegou a jogar na cidade espanhola de Las Palmas de Gran Canaria, no time do Unión Deportiva Las Palmas, após uma excursão bem sucedida do clube suburbano.
Mesmo sendo um nômade da bola, esperou um dia realizar dois sonhos: enfrentar o Flamengo e Júnior.
Os anos 90 surgiam no horizonte e tanto Lins quanto Júnior trilharam caminhos opostos nas carreiras.
Se Lins buscava sua profissionalização, sendo destaque no Olaria Atlético Clube, o “Maestro”Júnior (apelido recebido pelo fino trato à bola nos anos em que jogou no competitivo futebol italiano) conquistava títulos importantes como o da Copa do Brasil em 1990, o Campeonato Carioca em 1991, vencendo o Fluminense com uma exibição inesquecível e o Campeonato Brasileiro de 1992, disputado no primeiro semestre do ano.
Aliás, foi o único remanescente da década de 80 a conquistar o quinto brasileiro de sua história.
Portanto, ganhar o Campeonato Carioca de 1992, seria para o “Vovô” Júnior encerrar a carreira com chave de ouro, conforme ditado popular.
Já o Campeonato Carioca daquele ano, seria para Lins – jovem zagueiro olariense – a oportunidade em ser relacionado para o banco em algum jogo, pelo professor Toninho Andrade.
E seu maior receio era não jogar contra o experiente jogador da camisa 5 rubro-negra, que estava com 38 anos e com a aposentadoria batendo à porta.
Com isso, naquela quinta-feira, 19 de novembro de 1992, o Flamengo enfrentaria o Olaria, no Estádio da Gávea.
Para Lins, além de querer ser promovido aos profissionais – até a véspera daquele jogo era juniores – o que ele mais queria era estar perto do seu ídolo e viver aquela atmosfera.
Lembrou das suas lutas e do quanto batalhou para estar ali, pisando no gramado onde seu ídolo deu seus primeiros chutes.
Foi escalado sim, não na sua posição de origem mas de cabeça de área.
Por instantes, segurou o choro ao lembrar das coisas que teve que abdicar para seguir na carreira.
Ao entrar em campo, sentiu um frio na barriga ao ver os jogadores do Flamengo, um a um, pisando no palco verde da Gávea.
Ainda meio disperso, viu com exatidão, o momento em que um enxame de repórteres entrevistava o recordista de partidas oficiais pelo Flamengo, com 876 jogos.
Enquanto seus companheiros do celeste suburbano batiam bola e aqueciam para o jogo, Lins não tirava os olhos da direção dos jornalistas.
Não havia tática e tampouco meios de parar o talentoso craque da camisa 5.
Mas Lins queria era jogar bem e registrar tal momento para um dia poder dizer: “Eu joguei contra o Júnior”.
Porém, antes do árbitro Paulo Roberto Chaves chamar os capitães para o tradicional par ou ímpar, Lins se aproxima do idolo e pergunta sem jeito: “Seu Júnior, dá pro senhor tirar uma foto comigo?”
Com alguns fios prateados no tradicional bigode e nas laterais da cabeça, a lenda rubro-negra se aproximou e fez o registro.
Ele (Lins), não lembra quem bateu a foto e nem da partida em si, pois foi há 25 anos.
– Na verdade, naquele Flamengo x Olaria, eu me entreguei de corpo e alma àquela partida. Com 18 anos, recém-promovido aos profissionais, joguei em uma posição que não era a minha, pois era zagueiro e fui deslocado para cabeça de área e enfrentar um ídolo como o Júnior, não pode ser considerado normal. Mas joguei e tentei aprender um pouco mais, porque aquele ali, realmente foi um maestro. Não tenho como explicar em palavras o que senti jogando contra ele. Sinto até hoje que foi um presente de Deus, algo que jamais vou esquecer”, diz emocionado.
Naquele 1992, o Olaria fez um bom campeonato, terminando em sexto lugar com 14 pontos, à frente do América e Bangu, clubes tradicionais da cidade.
O Vasco foi campeão invicto do torneio – conseguindo ganhar com facilidade as Taças Guanabara e Rio, deixando o vice-campeonato para o Flamengo, em um empate por 1 a 1, em São Januário.
A equipe cruzmaltina, conquistaria o 18° título de sua história, contra o Bangu, com duas rodadas de antecedência.
Se Júnior não conquistou o título carioca, coube ao jovem Lins, conquistar seu título particular: enfrentar o veterano jogador.
Depois disso, as carreiras tiveram choques de realidade: Júnior parou um ano depois e Lins parou em 1996.
O vitorioso jogador rubro-negro, virou observador técnico da seleção brasileira em 1994, técnico de futebol, diretor de futebol e comentarista esportivo da Rede Globo.
Já o promissor e talentoso zagueiro do Olaria, virou bancário, trabalhou em uma seguradora e há seis anos, virou taxista. E a unidade 14 da Táxi-Forte, por onde conduz clientes contando suas histórias do mundo ingrato da bola.
De tudo, sua única saudade é de seu Moacyr, que faleceu em 2015:
– Meu pai foi meu amigo, companheiro de todas as horas, que me acompanhava nas partidas, treinos e onde eu estivesse, ele estava junto”, diz emocionado.
ANA MARIA PAULINO, A ‘LEILA DINIZ’ DAS PELADAS DO ATERRO
por André Felipe de Lima
Ana Maria Paulino
Mineira, natural de Belo Horizonte, onde nasceu no dia 7 de novembro de 1942, Ana Maria Paulino foi um dos principais nomes do ciclismo brasileiro na década de 1950, quando pedalava pelo antigo Ciclo Clube Monark do Rio de Janeiro presidido por José Bonifácio Paulino, seu pai, que foi ao lado do Mário Filho um dos maiores incentivadores dos populares Jogos da Primavera. Ana Maria foi também uma grande velocista do Vasco da Gama e do Fluminense. Defendeu-os em corridas e saltos e foi recordista nos 100 metros rasos, no arremesso de peso e no arco e flecha. Completa! Mas o que teria Ana Maria Paulino a ver com futebol? Por que, afinal, escrevemos sobre ela em uma página voltada para o futebol? Foi Ana, a grande atleta do passado, a primeira mulher a treinar no Brasil um time de futebol em uma conceituada competição de… pelada.
Sim, Ana Maria Paulino assumiu o comando dos times de peladeiros do Monark e, alguns anos depois, do Getúlio Futebol Clube, que competiram no famoso Campeonato Carioca de Pelada patrocinado pelo Jornal dos Sports e pelo Super Tênis Bamba 704 no final dos anos de 1960 e começo dos de 1970. Até que se prove o contrário, foi ela a primeira mulher a dirigir marmanjos peladeiros. Até 1971, quando comandava o “Getúlio”, jamais tinha ido ao estádio do Maracanã. “Mas não será por isso que não poderei dirigir um time”, rebatia, na lata, qualquer pergunta mal intencionada.
A primeira técnica de futebol era fã do Zagallo e afirmava categoricamente que o seu time jogava como Fluminense da época, campeão brasileiro de 1970. Com um ar professoral, mostrava a todos que a abordavam os caminhos táticos para vencer nas peladas do Aterro: “Nos campos do Parque do Flamengo, a armação da equipe é um dos fatores principais para se vencer o jogo. Primeiro, precisa-se ter um goleiro bem dotado fisicamente, pois não tendo impedimento, o goleiro precisa estar mais do que atento para sair em qualquer jogada. Três zagueiros plantados, dois jogadores que façam um vaivém constante no meio campo e mais três jogadores na frente. Dois deles, de preferência devem ser ponteiros, pois uma das grandes armas de um time é ter um jogador driblador que conduza a bola pelas laterais do campo e depois coloque o atacante na frente do gol”. Ana sabia das coisas.
A treinadora não era propriamente uma “Yustrich” de saias, mas não abria mão de um comportamento exemplar dos seus peladeiros no campo de barro: “Não admito palavrões, de espécie alguma. Uma vez entrei em campo para retirar meu time porque alguns jogadores cismaram de falar algumas ‘coisinhas’ para o juiz.”
A primeira vez que Ana Paulino deu pinta nas peladas do Aterro sofreu com o olhar enviesado dos machistas e sexistas infiltrados entre os peladeiros. Ela trazia a tiracolo uma mascote, um boneco do Bambi, personagem de Walt Disney. A moçada não levou muito a sério as pretensões da treinadora, mas, para a surpresa de todos, Ana dava um banho em muito “professor” de peladas do Parque do Flamengo. Com o tempo, a rapaziada acostumou-se com ela, que fazia do Monark e do Getúlio dois bons elencos peladeiros: “Um ou outro às vezes procura não me aceitar como sua orientadora, mas eu não perdoo. Tanto que três deles se afastaram e se organizaram para inscrever a sua equipe no Campeonato.”
Na época em que comandava os dois times, Ana estudava comunicação e trabalhava no Ministério da Saúde. “No Parque, eu já chorei, desmaiei, enfim, torci, dirigi e fiz tudo que qualquer outra pessoa poderia fazer”, afirmava.
Se no meio cultural a atriz Leila Diniz era exemplo de liberação feminina no final da década de 1960, nas peladas (ora, sim senhor), Ana Maria Paulino driblava com maestria o preconceito para se tornar a primeira mulher a treinar um time de peladeiros na história. Simplesmente épico! Mas fica a pergunta: por onde andará Ana? Quem souber, pode entrar em contato com esse repórter. Ana Maria Paulino faz parte da história da pelada brasileira.
UM CERTO DOMINGO NA VÁRZEA…
por Marcelo Mendez
E então vamos ao relato futeboleiro dessa semana para falarmos do que houve no Estádio Bruno José Daniel em Santo André.
Nele, os times do Nacional e do Jardim Utinga disputavam a decisão da Copa Santo André de futebol de várzea da Cidade.
A crônica da vaca fria da resenha ludopédica, se seguisse os padrões viciados das redações das obviedades ululantes, falaria aqui de maneira absurdamente rasteira do 1×0 mínimo que deu o título da Copa para o time do Jardim Utinga.
Foi um jogo ruim, onde nada aconteceu, pouco foi criado até a feitura do gol e acabou. Oras…
Caro leitor eu lhe afirmo que é completamente impossível que haja na várzea um jogo onde nada acontece. Seja pelo viés que for, seja como em um filme de Samuel Fuller, ou, em um desbunde surrealístico de um Luis Bunuel, absolutamente tudo acontece em volta de uma final de futebol de várzea.
Encontrei Andris Bovo e sua barba milimetricamente aparada na beira do campo e começamos a conversar de amenidades quando observamos umas coisas estranhas na cancha de jogo.
Vimos que o campo estava recheado de cones de trânsito, e logo na subida das equipes ao gramado descobrimos o porque. Foi feita uma espécie de trilha por onde as equipes deveriam seguir. Ao som da música da Champions League, perfiladas as equipes, tal e qual uma coreografia de figurantes de filme do Cecil B. Mille, entraram para se posicionar em cima de um tapete vermelho e ali cantar o Hino Nacional e o Hino da Cidade de Santo André.
Cumprido o cerimonial, começou o jogo.
De cara o estranhamento…
Diferente dos terrões, dos morros duvidosos e buracos sazonais dos campos que tornam épica a várzea, dessa vez a final foi disputada em um gramado ótimo, como de fato está o campo do Bruno Daniel. Um tapete, onde a bola rola, onde o passe chega, onde o chute não tem desvio, onde o fôlego é necessário por demais. A cancha é enorme, bem maior que os sonhos poucos e que as curtas ilusões daqueles 22 abnegados que logo cansam de tanto correr naquela imensidão verde. O jogo fica lateral, não acontece as jogadas agudas, o tempo não passa, a paciência de quem assiste se esgota e então começo a ver as coisas em volta do jogo.
Percebi uma movimentação dos organizadores da peleja; Há algum problema com o troféu. A mocinha da secretaria traz a notícia com cara de susto. Nada demais. João, o bom funcionário da Liga de Santo André vai ao vestiário, de lá volta soberano e comenta conosco:
– Tudo resolvido! – de fato, o troféu chega intacto e imponente.
Enquanto isso no campo, o jogo caminhava para os pênaltis em um momento onde nada parecia acontecer. Mas eis que contra toda a obviedade que engessa o verbo, uma bola chega aos pés de Mosquito, atacante do Jardim Utinga. Ele a recebe na risca do meio campo e caminha resoluto em direção ao gol do Nacional. No caminho, ignora marcadores, dificuldades e outras táticas. Dribla quem vem pela frente, até chegar de frente com o goleiro. Com uma ginga de samba, balança o ombro, joga-o para um canto e mete a bola do outro lado.
Um gol! Mais do que isso:
A bola que balança a rede na várzea e muito mais que um gol. E uma desorientação de sentidos. Uma catarse, uma enxurrada de poesias e odes empiricamente épicas.
Título para o Jardim Utinga. Gol para o domingo. Um domingo novamente agraciado pelo que há de mais belo através da várzea.
O boa e velha várzea. Sempre…
PELÉ, QUANDO FOMOS REIS
por Rubens Lemos
Depois de levar 18 foras da menina mais bonita, ele foi perguntar a razão ao amigo e confidente. Recebeu uma resposta sincera. A franqueza, afinal, é a senha do cofre da confiança: “Não adianta insistir. Você nunca vai namorar com ela porque é feio demais. Horrível. É duro te dizer, mas amigo é para falar a verdade?”.
O rejeitado resistiu. “Você está enganado. O problema deve ser outro. Antipatia gratuita, ela torce pelo Flamengo, eu pelo Vasco, incompatibilidade astral. Beleza não é o caso. Minha mãe sempre me disse que eu sou bonito. Aliás, lindo!”.
O amigo franco mandou que ele fosse pentear um macaco e foi embora aos impropérios.
A imprensa esportiva brasileira é a mãe enganadora dos pobres torcedores. É ela quem disfarça um futebol assemelhado às bruxas de histórias assombradas feitas para acalmar meninos rebeldes, de princesa de conto de fada. O futebol brasileiro não é, faz tempo, o melhor do mundo.
O Brasil deve a Pelé a liderança unânime e indiscutível. O sublime, o sobrenatural, o intangível, o inalcançável, extraterreno, o inimitável, foi a razão de uma pátria inteira calçar chuteiras e um jeito mágico de jogar virar instituição para se transformar em pó nos tempos de hoje.
O Brasil de Pelé. O Brasil com Pelé. Pelé disputou quatro Copas do Mundo. Em 1958, 1962, 1966 e 1970. Na primeira delas, tinha 17 anos, era um garoto que colecionava revistas do Mandrake e estava prestes a servir o Exército. Ganhou a primeira, a segunda, perdeu a terceira, conquistou a quarta.
Pelé ganhou três, das quatro Copas do Mundo que jogou. Ninguém está dizendo que antes o Brasil não teve craques. Produziu gênios do nível de um Fausto, a Maravilha Negra, de um magistral Domingos da Guia, de um Danilo Alvim, o Príncipe, de um Zizinho, de um Jair, de um Julinho, de um Leônidas da Silva. De um Ademir Menezes.
Mas a força espetacular de Pelé colocou o Brasil no patamar parecido com o dos Estados Unidos no Basquetebol. O esporte ganhou forma e fórmula, ginga e molejo, seus artifícios tinham parentescos com o samba, a malandragem e a boemia. O passo, o compasso, a cadência. Pelé consolidou o brasileirismo no futebol.
Com Pelé, o Brasil mostrou ao planeta estrelas incomparáveis: Djalma e Nilton Santos, os sagrados laterais, Didi, Garrincha, Gerson, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Edu, Coutinho, Ademir da Guia, Pepe, Paulo César Caju, Dirceu Lopes,Pagão, Toninho, Mário Sérgio, Amarildo, Almir.
Sem Pelé, o Brasil foi um menino bonito no fantástico escrete de 1982, com Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Zico, Éder, Leandro e Luizinho. Que perdeu pela estoica opção de atacar e também por enfrentar um timaço que nunca reconhecemos, a Itália de Antognioni, Cabrini, Zoff, Conti, Scirea, Paolo Rossi era, sim, uma verdadeira Squadra Azzurra.
Sem Pelé, o desempenho brasileiro nos outros mundiais perdidos foi ridículo. Em 1974, precisamos de um gol espírita de Valdomiro contra o risível Zaíre, depois de dois empates em 0x0 na primeira fase. Uma Copa com o dito supremo futebol planetário marcando apenas seis gols e levando quatro.
Sem Pelé, o Brasil foi Campeão Moral na Argentina em 1978 e só passou da primeira fase porque o Almirante Heleno Nunes, representante da ditadura militar no comando do futebol, escalou Roberto Dinamite contra a Áustria. O Brasil ganhou de 1×0 e passou à fase seguinte. Antes, dois empates medíocres contra Suécia e Espanha.
Sem Pelé, em 1986, o Brasil caiu nas quartas-de-final contra a França, com Elzo e Alemão no meio-campo. Nas oitavas foi eliminado em 1990, com Dunga e Alemão na meia-cancha, e Maradona fazendo fila indiana de zagueiros até deixar Caniggia fazer o gol argentino. Nas quartas, caímos em 2006 e em 2010.
Sem Pelé, o mundo gira em torno de um clubinho fechado. Está todo mundo igual com mais dois emergentes. O Brasil ganhou em 1994 graças a Romário e em 2002 a Rivaldo e Ronaldo. A Argentina em 1978 pelos tentáculos da barbárie e em 1986 pelos pés de Maradona, a Alemanha em 1974 e 1990, 2014 e a Itália em 1982 e 2006. A França em 1998 e a Espanha em 2010 foram os intrusos. Sem Pelé, nasceram outros luminares: Romário, a citada Geração de 1982, Reinaldo, Careca, Djalminha, Pita, Geovani, Adílio, Rivaldo, Edmundo, o lacrimoso Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho até o Barcelona. E pelo mundo afora outros iguais ou melhores.
Então é balela a história de que o melhor futebol do mundo ainda é o do Brasil. Foi. Enquanto Pelé existiu. Com lampejos no tempo do Flamengo de Zico. Agora a categoria é fulana. Hoje, todo clube grande tem um argentino, uruguaio ou chileno razoável.
Quando fomos reis, a esperança não se resumia à molecagem moicana de Neymar ou à insistência com ex-jogadores em atividade. Quando fomos reis, Pelé, o monarca, dispensava Galvões Buenos, ufanistas radicais, vendilhões do patriotismo, estelionatários da fé do povo. Pelé, por mais que não parecesse, era de verdade.