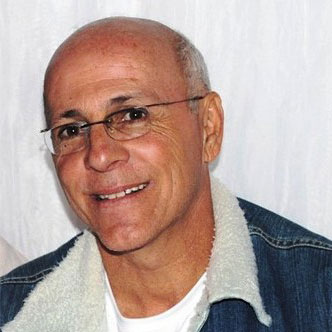MANÉ GARRINCHA, O DIABO DA COPA
por Marcelo Meira
No início andou de clube em clube, esperava na cerca. Queria uma oportunidade e agora havia saído lá das lonjuras de Pau Grande, Magé, RJ, para o estádio do Botafogo na zona sul carioca. Vinha de longe. Estigmatizavam suas pernas retorcidas e não lhe davam chance. Era quase noite e o teste já ia acabar. Acontecia ali uma peneira de jovens jogadores que tentavam a obtenção de um contrato para desembestar na vida. De repente disseram: entra aí.
O técnico era Gentil Cardoso e o seu marcador Nilton Santos, considerado, depois, pela crônica esportiva, o melhor beque do mundo ou a enciclopédia do futebol, dele ninguém se recordando ter sido driblado alguma vez. Ao pegar logo de início na bola, assumindo a ponta direita, as pernas tortas de Mané Garrincha gingaram e deixaram aquele que foi eleito pela FIFA como o maior lateral esquerdo de todos os tempos, de chuteiras para o alto. Espanto generalizado. Ninguém jamais havia visto isso. Diz a lenda que Nilton se levantou e bradou: contratem esse homem, ele tem que jogar do nosso lado! E foi o que aconteceu. Garrincha a partir dali iria disparar pelos campos de futebol do mundo inteiro.
Mané driblava e driblava, para lá e para cá, com quatro ou cinco marcadores em sua frente caindo uns por cima dos outros, sem soltar a bola ou perdê-la e a multidão nos estádios gargalhando em delírio uníssono fosse da sua galera ou do adversário. Certa vez em um Flamengo x Botafogo, no Maracanã à noite, a maior torcida do Brasil, na época a rubro-negra, ficou de pé aplaudindo o craque que havia driblado a sua própria defesa inteira antes de marcar o gol. Era o reconhecimento público incontestável até pelo principal rival do Botafogo, o Flamengo, coisa nunca dantes vista nas praças futebolísticas cariocas ou brasileiras.
Nelson Rodrigues um dos maiores cronistas desportivos em todos os tempos e que teve as mais contundentes tiradas asseverou que “toda unanimidade é burra”. Esquecia-se, se pudermos considerar válido o seu conceito, aquele mestre do jornalismo que Garrincha sempre idolatrado por ele era a única unanimidade inteligente do planeta terra. Ovacionado por todos os torcedores do mundo afora e aclamado em todos os campos de futebol por onde passou, deixou seu rastro indelével para todas as gerações futuras não contempladas ao vivo com os espetáculos que proporcionava. Mané independia de raça, clube, país, religião e tudo o mais. Era, foi e sempre será um mito a pairar na consciência futebolística mundial.
Conta-nos Mario Filho, em sua obra “O Negro no Futebol Brasileiro,” que numa excursão na Itália, preparatória para a Copa do Mundo de 1958 na Suécia, “Garrincha havia sido barrado depois de um gol que marcou contra a Fiorentina, o qual era o último de uma vitória de quatro a zero. Driblara toda a defesa italiana, inclusive o goleiro, o gol estava vazio, mas esperou que o beque voltasse para tirá-lo de debaixo dos três paus com outro drible. O beque saiu do gol, quando viu Garrincha entrando, de bola e tudo, quis voltar e bateu com a cara na trave.”
Era o dia 29 de Maio de 1958, vésperas da Copa. “Vicente Feola o técnico disse: nunca mais me entra no escrete. Carlos Nascimento, chefe da delegação brasileira, fez eco e gritou logo: irresponsável! Foi preciso que antes do jogo contra a Russia, Bellini, o capitão, Nilton Santos e Didi fossem a Feola para dizer:
– Seu Feola, viemos aqui para ganhar o campeonato do mundo. Sem Garrincha não vai dar pé.
E aí o Brasil arrancou em direção ao primeiro campeonato mundial que conquistou. Garrincha saiu de lá cognominado o Diabo da Copa.
Na competição de 1962 Garrincha foi Pelé e Garrincha ao mesmo tempo. Goleou de falta, de cabeça, de perna esquerda e driblando geral… um furacão. O Brasil venceu, era o bi-campeonato mundial. Pelé era o Rei e não pôde mais jogar o certame por uma contusão na virilha ocorrida logo no segundo jogo. Mas Garrincha estava ali, e como disse Mario Filho era “o Rei dos Reis”.
Foi conhecido como o diabo, demônio da Copa, a alegria do povo e na colocação de Vinicius de Moraes “o anjo de pernas tortas”, o qual escreveu e lhe dedicou um poema com esse título. Era um milagre que, inocentemente, zombava de todos os jogadores contrários que lhe apareciam pela frente. Não fazia questão, antes dos jogos internacionais em que participou, de saber o nome de seus marcadores, por isso em razão da difícil pronúncia para ele apelidou de “João” a todos quantos fintava incessantemente. O medo de ser o João da vez era espalhado. A firula ia sempre para a direita, na lateral do campo, quatro ou cinco lhe marcando, num espaço mínimo e mesmo assim eram ultrapassados.
As gargalhadas ecoavam nas plateias, estrondosas como sempre. Muitos jogadores após o drible mortal e caídos no gramado se levantavam para o agredir em face da desonra que consideravam ter lhes sido imposta, mas escutando o coro dos espectadores paravam, com vergonha de fazer qualquer coisa, por conta da gaiatice monumental proveniente das arquibancadas e cercanias. Nada mais lhes restava senão tentar e tentar novamente sem sucesso. Garrincha não revidava quando sofria falta e muitas vezes, ainda cambaleando no percurso do lance recuperava a jogada e com o pique mais rápido já visto no futebol assumia a lei da vantagem, partindo célere em direção ao gol para terror dos adversários.
Esse era o seu destino, jogar driblando por instinto e correr atrás da bola para executar o cruzamento ou marcar o golaço de placa. Havia, um lateral esquerdo do Vasco da Gama, Coronel, que sempre lhe agarrava pela camisa e a rasgava arrastado por Mané em seu tiro indefensável. Um outro, Altair, que jogava no Fluminense, mestre do carrinho, que era lícito, ao executar o bote para tentar barrar a passagem daquele semideus, deslizava pela grama e dificilmente conseguia acertá-lo. Mas foi Jordan lateral esquerdo do Flamengo a quem ele, numa manifestação de gratidão, atribuiu o título de seu melhor marcador apesar de que nunca tenha conseguido efetividade para interrupção de sua trajetória fulminante. Isso era perfeitamente explicável pois Jordan além de ser seu compadre jogava na bola e nunca lhe machucava.
Então foi assim que Garrincha construiu ou ajudou a construir atacantes que enriqueceram e se consagraram tal e qual Vavá, artilheiro da Copa de 62, pegando rebotes e lançamentos feitos por Mané e também Amarildo, Paulo Valentim, Quarentinha, todos do Botafogo e da seleção canarinho, bem como muitos outros. O povo soube reconhecer o seu ídolo com o seu melhor aplauso. Morreu pobre e doente o único jogador imarcável. O futebol por aqui decaiu, difícil conquistar uma Copa Mundial neste outro tempo, uma longa entressafra de craques. Querem surrupiar o direito previdenciário no Parlamento, fraudaram a carne e a política. Agora obedecendo o script nacional até o túmulo do Garrincha. É que seus restos mortais, verificou-se em maio de 2017, desapareceram do cemitério em Magé, RJ, onde ele foi sepultado, sem que houvesse ocorrido exumação. Valha-nos Deus e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil!
Lendas da Areia
lendas da areia
texto: André Mendonça | fotos: Marcos Tristão | vídeo e edição: Daniel Planel
Houve um tempo em que o futebol de areia era muito mais do que um simples esporte. Curiosos se espremiam no calçadão para ver belos duelos, após o apito final a resenha era completa e existia uma grande identificação dos jogadores com os times, que se tornavam verdadeiras famílias. Por essas e por outras que estamos sempre querendo ouvir craques que fizeram história naquela época, como é o caso de Neném, Magal e Benjamin.
Após muitas tentativas, conseguimos reunir o trio bom de bola graças ao parceiro Guilherme Careca, que fez o meio-de-campo para a gente. Em um dia agradabilíssimo no Leme, os craques bateram um papo para lá de divertido com direito à troca de elogios e saudosismo.
– Foi a maior satisfação jogar ao lado do Magal, ele sempre foi um paizão para mim. Pegamos a época verdadeira do futebol de praia, de 11 mesmo. Hoje o futebol de 11 não é a mesma coisa – ressaltou o artilheiro Neném.
Nascido e criado no Leblon, Magal começou jogando pelo bairro e tinha como referência o Columbia, time do bairro e onde jogava seu irmão Roberto. Por ser mais novo, revelou que costumava ficar atrás do gol assistindo aos craques como China, Feijão e Lauro, seu ídolo, que virou até peça de botão na sua mesa.
Vale destacar, no entanto, que Magal se arriscou no futebol de campo antes de se tornar um ídolo com os pés na areia.
– O Júnior havia me levado para jogar futebol em Torino, na Itália. Em 94 surgiu a oportunidade de jogar um campeonato de praia. Eu já tinha a experiência no Beach Soccer e fiquei conciliando as duas atividades, sempre lá e cá. Em 98, voltei para o Rio e comecei a dar sequência na areia.
Neném, por sua vez, revelou que seu grande sonho era ser jogador de futebol de campo, mas o comodismo e a facilidade falaram mais alto:
– O Leme representa tudo na minha vida. Fui nascido e criado aqui no Morro da Babilônia e em poucos minutos já estava na areia. Queria jogar campo, mas a facilidade de chegar na areia era grande.
Quando a resenha já rolava solta, o craque Benjamin chegou para dar aquele reforço. De acordo com ele, o Leme é o quintal da sua casa e ter feito parte dessa geração de Magal e Neném é um baita privilégio.
Ao ser colocado em uma verdadeira saia-justa por Sergio Pugliese, que perguntou quem seria escolhido primeiro (Magal ou Neném), o craque titubeou, mas não ficou em cima do muro.
– Neném é meu irmão, escolheria ele por isso. Mas o Magal foi o melhor de todos os tempos, eu ia à praia só para vê-lo!
No fim da resenha, com autoridade para se vangloriar, Neném disparou:
– Para carregar a bola na areia só tiveram três: eu, Magal e Benjamin.
Quem viu, viu!
BAIANINHO
por Zé Roberto Padilha
Jogava em Campos, no Goytacaz FC, quando Baianinho chegou ao clube em 1984. Ex- jogador do Corinthians, a despeito do que possa ter acontecido em sua passagem por lá, o fato de ter vestido uma camisa tão carismática o credenciava a ir buscando emprego Brasil afora. Na pior das hipóteses, conseguiria uma semana de testes para suprir a curiosidade diante de tão suntuoso item cravado no seu currículo. E mesmo fora de forma, com 28 anos e meio gordinho, conseguiu autorização para mostrar seu futebol em dois coletivos. Cobra criada, se saiu muito bem, mas melhor ainda se portou seu empresário: no lugar de ficar ao lado da diretoria para apresentar seu jogador, foi para as arquibancadas se misturar aos aposentados e desocupados torcedores do clube, que todas as quartas e sextas assistiam nossos coletivos. Era o Baianinho pegar na bola que o grupinho se inquietava, batia palmas quando acertava um simples toque lateral. E desculpava seus passes errados com um “Valeu, Baianinho!”, bem nítido.
Enquanto o treino corria, o empresário dissertava para a galera as proezas do seu jogador. O passe que deu para o Sócrates fazer um gol contra o São Paulo, do gol que ele próprio marcou contra o Juventus, na Rua Javari. E quanto ao Zé Maria? Quem não conhecera o ex-lateral da seleção brasileira, o Super-Zé, ficou sabendo que ele tinha o maior carinho pelo Baiano. No Corinthians, eram como irmãos. E o azar que ele deu? Moço bom, família para criar, o fato é que com 20 minutos de treino a arquibancada, unânime, o queria não só vestindo a camisa 7 do Goytacaz, como escreveriam para o Globo Esporte exigindo assistir seus gols pelo Baú do Esporte.
Aos 30 minutos, o Baianinho meteu um gol e eu, dentro de campo, por mais acostumado que estivesse com a extensão que o burburinho ia alcançando, fiquei assustado com tamanha gritaria. Como era seu primeiro coletivo, achei que ele tinha trazido a família inteira, o que era comum, mas com os comentários surgidos antes do segundo treino falavam sobre seu empresário e seu inédito estilo de vender sua mercadoria, eu tive que me curvar ao talento de ambos. Pois, mesmo contando com dois pontas direitas, o nosso presidente se viu na obrigação de atender “ao clamor da massa”, que já ganhava as rádios e os jornais de Campos, e o contratou por um ano.
Até que não foi mal o Baianinho. Uma pena que a sua intimidade com a bola não ficasse apenas na habilidade e domínio – ela ia além e ambos se confundiam no formato. Mesmo quando atingiu o melhor da sua forma por lá, a balança ainda marcava dois acima, e era uma luta sem tréguas com o peso que foi cedendo a favor da Filizola na medida em que foi se desmotivando.
Preterido por Pinheiro, nós acabamos sem poder contar com seu grande futebol. Mas não foi pelo seu talento, gordura ou folclórico empresário que estou escrevendo sobre sua passagem pelo Goytacaz, que está de volta à primeira divisão do Campeonato Carioca de 2018. Escrevo sobre uma entrevista que deu para a TV Norte Fluminense, subsidiária da Globo, em horário nobre.
Indagado se a falta de jogos poderia comprometer sua forma física e técnica, Baiainho respondeu que o perigo era o “relaxismo” que poderia acontecer com ele. Se fosse jornalista, ainda passava, poderia até ter seu neologismo assimilado pelo próximo Aurélio, mas foi proferido num clube de futebol, onde o regime sobrecarregado de homens convivendo juntos por muito tempo não é capaz de perdoar tais deslizes.
E pegaram no pé do Baiano. Era um tal de relaxismo pra cá, Baiano você, calado, é um novo Castro Alves, que ele recorreu em ultima instância a sua esposa, que era professora. Ela fez o que pôde, recorreu até a Barsa do vizinho, e só encontrou relaxada, relaxante – relaxismo que era preciso para relaxar seu tenso marido, nada. Mas sugeriu uma saída inteligente: alegar que era uma força de expressão comumente usada em sua terra natal.
Dia seguinte, ele piorou ainda mais as coisas tentando se explicar. O clima era de deboche e ele não resistiu: De gozador e brincalhão, se encolheu. E seu comportamento introvertido nada ajudou seu futebol, que se encolheu também. Foi para o fundo do ônibus e se instalou na ultima poltrona, pouco queria conversa e sua voz só voltamos a ouvir em Itaperuna, após um Goytacaz 2×1 Seleção local.
O vendedor de picolé, atendendo seus insistentes apelos, pois sua sede era maior que a de todo mundo, parou embaixo de sua janela. Jorge Luiz, nosso goleiro, quatro poltronas adiante, gritou para o Baianinho comprar um picolé para ele. E o Baiano, em péssima fase literária, perguntou alto: “De que marca?”. Jorge Luiz nem deixou quicar. E devolveu para delírio da massa: “Fiat!”.
Novo caos. Alguém disse para ele continuar com seu relaxismo, que era melhor e doía menos aos ouvidos. Essa palavra, que ele mesmo criou, parecia descontrolar o Baiano, que voltou a xingar a sede do clube, que era pequena e só poderia abrigar gente pequena e sem respeito. Nova introspecção. Baianinho deixou o Goytacaz três meses depois. Fez muitos amigos, quatro gols, mas não conseguiu apagar do placar do Estádio Ari de Oliveira e Souza sua adversidade maior: Relaxismo 1×0 Baianinho. Placar Final.
REINALDO, ANJO SOLITÁRIO
por Rubens Lemos
O imenso zagueiro Argeu parece suplicar clemência. O baixinho de camisa alvinegra havia lhe aplicado um drible de costas, entrado na área, ameaçado o corte no loiro goleiro Valdir Appel e tocado por cima, balançando as redes macias do Estádio Mineirão.
O relógio marcava 41 minutos do segundo tempo e o menino de 21 anos, sacramentava a goleada do Atlético-MG sobre o América de Natal por 6 a 0, num baile de bola.
Um gol que valeu placa no estádio, reconstruído e desfigurado para a Copa de 2014. O América tinha um bom time, o adversário é que jogava como um triturador. O Atlético arrancava livre para conquistar o Campeonato Brasileiro de 1977 que perderia nos pênaltis para o regular time do São Paulo.
Estava sem Reinaldo, suspenso por causa de numa expulsão ocorrida um ano antes. Tiraram o processo da gaveta, julgaram e o craque ficou fora do campeonato. Ainda assim, artilheiro com 28 gols, recorde que só seria quebrado por Edmundo, do Vasco, em 1997.
Reinaldo sempre foi a pedra preciosa do futebol, apagada na hora do brilho decisivo. Na final contra o São Paulo, o Atlético não poderia mesmo vencer, pois no lugar de Reinaldo havia de centroavante Joãozinho Paulista, de notória competência em times do futebol nordestino. Foi um dos perdedores de pênaltis diante do goleiro Valdir Peres.
O Campeonato de 1977 ainda era visto em preto e branco. Pelo menos nas imagens que chegavam aqui a Natal, via TV Tupi, a magia de Reinaldo, pequenino e quixotesco nos dribles curtos e arrancadas sobre zagueiros gigantescos feito o Argeu desesperado no lance do sexto gol contra o América.
A conquista do Atlético era aposta cravada. A forte equipe do Vasco, que havia vencido o Campeonato Carioca, perdera em casa para o Londrina que foi enfrentar justamente o Galo nas semifinais para ser eliminado.
O São Paulo despachou o Operário de Campo Grande-MS que tinha Manga, o lendário, em seu gol. Atlético e São Paulo foram à final no Mineirão sem seus artilheiros. Reinaldo havia sido afastado. Serginho Chulapa, do tricolor, havia sido suspenso por agredir um bandeirinha. Pegou um ano de punição.
O Campeonato Brasileiro, com 62 participantes, do Goytacaz de Campos (RJ) ao Fast Clube (AM), era um mercadão montado para atender aos interesses da Ditadura Militar.
Para nós, que frequentávamos o extinto Castelão (Machadão), era uma contradição maravilhosa. Víamos os grandes do Brasil jogando contra ABC e América. O Atlético enfrentou a fúria do volante Chicão e, seu time de meninos criativos (Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo, Ângelo, Heleno, Marinho, Ziza), sentiu o peso do jogo do adversário, treinado sob as táticas de força do técnico Rubens Minelli, bicampeão em 1975 e 1976 com o Internacional de Porto Alegre (RS).
É fato que o sapo daquela tarde chuvosa em Belo Horizonte foi o São Paulo. Fechado, segurou o 0 a 0 até os pênaltis. Reinaldo chorava nas cadeiras especiais, lágrimas de revolta pela ausência que considerava injustificável.
Reinaldo incomodava os tiranos. Comemorava seus gols de punho cerrado, num gesto de provocação ao regime brutal. Parecia gritar pela dor que sentia nos joelhos em frangalhos desde os 18 anos, triturados pelas chuteiras de dois zagueiros em especial – Darci Menezes e Morais – do Cruzeiro.
O Atlético de Reinaldo mandava em Minas Gerais e ganhava todos os títulos estaduais, ele jogando como o Tostão de camisa trocada. Uma elegância genial em fintas de corpo, toques por baixo das pernas dos marcadores, gols suaves. O Fenômeno ferido que valia por 10 Ronaldos midiáticos.
Reinaldo jamais deu uma porrada na bola para fazer um gol. Jogou mal a Copa de 1978. Estava machucado e importaram uma máquina de ginástica, a Náutilus, monstrengo de ferro para fortalecer a musculatura de suas pernas.
Fez gol na estreia e sumiu. Campos esburacados e o esquema tático medroso de Cláudio Coutinho prejudicaram o Rei. Ele foi enchendo o seu coração do fel da revolta, que só lhe faz mal.
Envolveu-se com drogas, meteu-se com movimentos alternativos, frustrou-se na carreira política e nos últimos tempos, é uma foto amarelada do menino dourado que foi. Aos 61 anos neste 11/1, Rei supremo de um território chamado solidão.
PS. A legenda do vídeo marca o ano do gol, 1978, mas a partida valeu pelo Campeonato de 1977 que entrou pelo ano seguinte.
MAIS QUE UM ÍDOLO
por João Pedro Planel
Essa admiração que tenho pelo goleiro Jefferson é inexplicável: tantas glórias e derrotas, felicidades e infelicidades, bons e maus momentos. Ele está lá, com sua luva e sua dedicação. Mais do que isso, sempre demonstrando superação e coragem. Quando ninguém acreditava nele, Felipão acreditava, botafoguenses acreditavam.
Em 23 de agosto de 2000, num jogo contra o Bahia, Jefferson, ainda no Cruzeiro, brilhava. Todos desconfiavam, mas o professor celeste tratou de tranquilizar o paredão:
– Você pode levar dois, três, até cinco gols; você é o meu goleiro.
A âncora deixou suas costas. O peso se foi. E lá estrearia Jefferson como conhecemos. Grandes defesas, nenhum gol tomado e vitória do Cruzeiro. Teve grandes momentos entre 2000 e 2002, pegando tudo, até que Felipão saiu e a titularidade foi por água abaixo.
Chegou emprestado em 2003 ao seu, ao meu, ao nosso Glorioso. Não importa se ele estava emprestado ou contratado definitivamente, pois em 2004, ganhou a titularidade e mitou. Jogo após jogo, Jefferson ia cada vez mais se aproximando do status de ídolo e caminhava rumo a seleção. Em 2005, se transferiu para a Turquia, visando chances com a amarelinha, mas ninguém guardou rancor ou raiva; ao contrário, desejaram boa sorte e agradeceram a tudo.
O ano de 2009 chegou e Jefferson voltou com tudo. Com muita moral e defesas que entrariam para a história, seja no pênalti de Adriano, seja no pênalti de Messi. Por tudo que fez, serve de exemplo para muitos jogadores, sobretudo por nunca desistir diante das dificuldades.
Nunca perca a esperança, se esforce muito, faça o que você tem que fazer, mesmo se disserem várias vezes “não, não vai dar certo”. Erre. Erre muito. Faça coisas “inevitáveis”, “malucas”, pois é assim que se aprende. Foram falhas atrás de falhas, derrotas atrás de derrotas, porradas e mais porradas na vida, mas ele nunca desistiu e se tornou o que é hoje: um dos goleiros mais consagrados do Botafogo e do mundo
Está, até hoje, no Fogão, fazendo nosso dia mais feliz. Jefferson não é simplesmente um goleiro, mas um dos maiores ídolos que o Botafogo já teve. Não precisa agradecer, você já nos agradeceu: acreditou no clube, levantou nossos ânimos quando o time estava numa de suas piores situações. Foram meses de salários atrasados, mas você estava lá para honrar nossa camisa e jogar futebol.
Valeu, Jefferson!