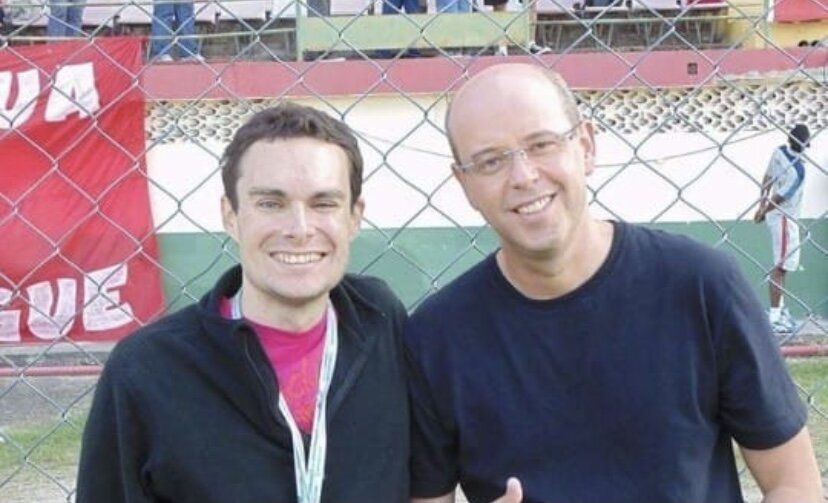BOB 67
por Rubens Lemos
Foto: Ronaldo Theobald
Ensaiava sair no tapa algumas vezes quando algum chato flamenguista xingava Roberto Dinamite na escola. Brigas tolas, de menino, em intervalo discutindo a rodada de domingo na chatice de uma segunda-feira. Flamenguista não fica satisfeito apenas em torcer pelo seu time. Gosta de tripudiar, humilhar, debochar do derrotado e nos anos 1980, o Vasco apanhava muito mais do que batia.
O Vasco era Roberto Dinamite, meu ídolo, o cara que ilustrava meu caderno socando o ar em vitórias sofridas. Quando o conheci, no antigo Hotel Ducal, onde ficou hospedada a seleção brasileira na única vez em que jogou em Natal, 26 de janeiro de 1982 (3×1 na Alemanha Oriental), tremi da cabeça ao dedão do pé ao receber seu autógrafo e um sorriso comovente pelo cinzento de uma tristeza cativante.
Fiquei abalado quando o (maior) técnico Telê Santana excluiu Roberto Dinamite da lista dos 22 convocados para a Copa do Mundo de 1982. Uma tremenda perseguição. Roberto Dinamite fez gol e jogou muito bem, afinado com Zico ao ser convocado pela primeira vez por Telê para um amistoso contra os búlgaros em Porto Alegre: 3×0. Zico e Roberto Dinamite, juntos, nunca perderam um jogo pela seleção.
Barrado pelo pavoroso grandalhão Serginho Chulapa, à época no São Paulo, perdeu a vaga de reserva para o jovem Careca, do Guarani, habilidoso, ágil e adequado ao estilo de toque de bola da constelação que brincava com a bola.
Careca se machucou já nos primeiros treinos em Cascais, Portugal, onde o Brasil se preparava, e Telê foi obrigado a convocar Roberto Dinamite sem sequer colocá-lo no banco de reservas em nenhuma das cinco partidas.
Enquanto Zico, Sócrates, Falcão, Leandro, Júnior e Éder encantavam o planeta bailando em variação de ritmos, do samba ao jazz, Chulapa, destoando da sinfônica, ganhava uma reputação infame: o melhor zagueiro-central da Copa perdida para a Itália. Telê Santana conseguia ser maravilhoso e teimoso.
Roberto Dinamite segurou o Vasco sozinho no tempo de cartolas avarentos. De timecos. Aos 20 anos, comandou o improvável título brasileiro de 1974 superando o Santos de Pelé, o Cruzeiro de Dirceu Lopes e o Internacional de Figueroa e Falcão.
Três anos depois, massacrou Flamengo, Botafogo e Fluminense na épica jornada do primeiro título que assisti pela TV. O Carioca de 1977 com Mazarópi; Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio; Zé Mário, Zanata e Dirceu; Wilsinho, Roberto Dinamite e Ramon. Ele batendo o pênalti final jogando o goleiro Cantarelli para um lado e a bola entrando rasteira no canto direito.
Bem mais do que admiração, Roberto Dinamite transpirava ternura, uma singeleza quixotesca. Formou duplas sensacionais com Ramon, Guina, Jorge Mendonça, César, Cláudio Adão, Elói, Arthurzinho e Romário, seu sucessor e melhor atacante de todos os tempos.
Na transição do adolescente para adulto, quando se assume o mundo sem que se combine com quem quer que seja, passei a ver o Vasco na classe superior do maestro Geovani, companheiro de Roberto Dinamite nos títulos de 1982, 1987, 1988 e 1992.
Geovani representava a beleza estonteante que sobrava no Flamengo arrasador de Andrade, Adílio, Zico e Júlio César Uri Geller, ponta-esquerda entortador de laterais. Roberto Dinamite permanecia em mim como entidade.
Meus times de futebol de botão sempre tiveram Roberto Dinamite com seu sorriso entre o triste e o tímido, destronando defesas do Flamengo com Rondinelli e Marinho, do Fluminense com Miguel e Edinho, do Botafogo com Osmar Guarnelli e Renê Pancada.
Roberto Dinamite não é o herói que já foi. Roberto Dinamite é a chama acesa e turva de um Vasco de orgulho, honras, vitórias e glórias.
Aos 67 anos, completados hoje, humaniza nossos corações arrasados pelo clube morto. Basta rever o mais belo gol do Ex-Maracanã, aquele lençol sobre Osmar do Botafogo seguido do sem-pulo no finalzinho da partida. Aquele nem Zico fez igual. É nosso. É Dinamite. Bob 67.
REVERÊNCIA AOS ÍDOLOS
::::::: por Paulo Cézar Caju ::::::::
Diariamente recebo fotos e recortes de jornais e revistas dos meus tempos de jogador. Algumas, inéditas para mim e outras que sempre adoro rever. O registro mais comentado da semana passada foi a que apareço com os húngaros László Kubala e Ferenc Puskás, e com o argentino Alfredo Di Stéfano. Pelo meu sorriso é fácil perceber o tamanho de minha felicidade. Cresci ouvindo meu pai, o velho Marinho, contando histórias sobre esses três craques.
Na Colômbia, pelo Junior de Barranquilla e ao lado de Heleno de Freitas, ele jogou contra Di Stéfano, no Milionários, e precisava chegar junto para acalmar a fera, considerado por muitos o maior jogador argentino de todos os tempos. Na verdade, também era necessário domar o temperamental Heleno, seu parceiro de time e que adorava uma confusão. Na década de 50, Kubala e Evaristo de Macedo, pelo Barcelona, realizaram duelos memoráveis contra o Real Madrid, de Di Stéfano e Puskás. Tempos maravilhosos! Cresci, fui campeão do Mundo e em 74 me transferi para o Olympique de Marseille.
Sempre li muito sobre a história do futebol e seus pioneiros. Tenho muito respeito por essa turma e os reverencio sempre que posso. Naquela época, um menino que visse Puskás em um bar com aquela barriguinha saliente acharia se tratar de apenas mais um chopeiro. É comum muitos gênios do futebol não serem conhecidos pelas novas gerações. O Brasil é tido como o país do futebol, mas não trata bem os seus ídolos. Vários e vários já foram barrados nas portas de seus clubes e no próprio Maracanã. Sem falar nos que morreram completamente desassistidos.
Na Europa, comecei a participar com regularidade de amistosos festivos e sempre fazia questão de me apresentar a esses lendários personagens do futebol. Poucos antes anos eu havia participado da despedida de Eusébio, o cracaço português, na verdade moçambicano. E em 1974, tive o orgulho de jogar entre esses três ídolos de minha infância, no jogo de despedida de George Theo. Graças a Deus, joguei com gigantes do futebol desde minha estreia no Botafogo. Em meu clube de coração joguei com Gerson, Jairzinho e Roberto Miranda. No Flamengo, com Rogério, no Flu, com Rivellino, Dirceuzinho e Marinho Chagas, e no Grêmio, com Mário Sérgio.
Na década de 50, a Hungria revolucionou o futebol e goleava quem surgisse pela frente. Meu pai adoraria ter visto aquela cena, eu dividindo o campo com os homens que ele idolatrava: Kubala pela direita, Puskás, de meia-esquerda, Di Stéfano de centroavante e eu na ponta-esquerda. Vivi o futebol em sua essência e me perdoem se hoje pareço amargo comentando o que assisto. Depois de ouvir um comentarista falando que falta corpo de jogo para o time do Bragantino penetrar por dentro, hoje só quero olhar para essa foto, namorá-la e refletir, tentar entender onde o futebol se perdeu no caminho.
A MAIOR DAS EVOLUÇÕES
por Zé Roberto Padilha
Até a Copa de 1974, disputada na Alemanha, esse atleta ruim de bola, que quando tiravam par ou ímpar nas peladas ninguém queria na linha, e o mandavam para o gol, não tinha no seu clube quem os treinasse.
Mesmo usando as mãos quando 92% utilizam os pés, e usam fundamentos completamente diferentes, eles corriam na pista e se exercitavam com zagueiros, meias, atacantes…
Os goleiros mais esforçados, após os treinos, iam para a caixa de areia do atletismo, aquela do salto em distância, e pediam para a gente jogar a bola. E ficavam saltando, por conta e risco, de um lado para o outro.
Na minha época, no Fluminense, os heróis eram Félix, Roberto, Nielsen, Jairo, Paulo Sérgio, Paulo Goulart e Jorge Vitorio.
Após a Copa, Sepp Meyer, goleiro alemão e já campeão do mundo, lançou um livro. Nele revelava seu segredo: jogava tênis. Se acertava aquela bolinha minúscula, escreveu, como erraria a grandona jogada em sua direção?
Daí veio um membro da militarizada comissão técnica brasileira, Raul Carlesso, e criou uma nova profissão: treinador de goleiros. É só pegar os jogos do Gilmar, duas Copas do Mundo anteriores, do Félix, tricampeão, que vocês verão como evoluíram em todos os fundamentos.
Quando batiamos pênaltis, eles tentavam adivinhar o canto. Hoje, na véspera das partidas, assistem aos vídeos e ficam sabendo da nossa preferência.
Na profissão mais cruel do mundo, porque onde pisam mal nasce grama, e um deles, Barbosa, nada treinado, foi sacrificado e faleceu sem ser perdoado, nenhum goleiro começou jogando porque levava jeito. Pelo contrário, surgiram na rejeição à prática do seu ofício.
Mas temos que reconhecer: nada no mundo do futebol evoluiu mais do que os seus treinamentos. Se tenham dúvidas, pergunte a um jogador do Palmeiras, escalado para bater ontem, se esse novo modelo, que vem treinado de fábrica, tenta adivinhar o canto?
Antes, o batedor, diante de um boneco, perdia seu pênalti. Hoje, o goleiro, capacitado, é quem defende a cobrança.
Diego Alves se tornou uma máquina programada para pegar pênaltis. Parabéns a Raul Carlesso. Parabéns aos goleiros salvaguardas das nossas maiores paixões.
DEVIDO RECONHECIMENTO
por Luis Antônio Garcia
Hoje, 12/04/21, são exatos 46 dias passados daquela partida que decretou um ano mais ao jejum de Campeonatos Brasileiros do Internacional, totalizando 41 anos desde a última conquista, o Tricampeonato ‘invicto’ em 79. De 1979 a 2020.
Passada a “quarentena” (a da ressaca, a pandemia ainda não), ficou aquela sensação da Copa de 78 na Argentina, a de “Campeão Moral”. Não que o título do Flamengo tenha sido como o da Seleção anfitriã de 78, aquele sim imoral, este, circunstancial, ganho com uma derrota na final e com muita polêmica de arbitragem também. Merecimento.. tivemos. O ‘meu’ Colorado pressionou até o último lance do jogo contra o Corinthians e terminou o campeonato com uma bola raspando a meta do Timão. Minutos antes havia feito o gol do título naqueles impedimentos ajustados que matam o torcedor de desgosto. Mas foi-se o desgosto. Como torcedor Colorado jamais lembrarei dessa equipe como o time que não ganhou porque ‘a bola que mudaria tudo’ aconteceu, só não foi reconhecida.
Reconhecimento, embora numa cultura futebolística que abomina o vice campeão, tudo o que mereceriam pra sempre, o grande Abel Braga, o Lomba, Moledo, Cuesta, Edenilson, Patrick, Dourado, Praxedes, Yuri Alberto, todos estarão pra mim (infelizmente devo ser imensa e arrasadora minoria) na galeria dos grandes vencedores da história do clube.
Agora, 2021, novo técnico, novas competições e, logo ali, nova tentativa de quebra do jejum, embora não me sinta em abstinência!!
TRISTES RELATOS DE UM JORNALISTA ESPORTIVO
por André Luiz Pereira Nunes
O dia sete de abril é dedicado ao jornalista. Em que pese a importância da nossa profissão, não há muito com que comemorar. Quem acompanha o noticiário, tem total ciência das rotineiras e seguidas ondas de demissão que têm assolado os companheiros de classe, visto que jornais, portais, rádios e emissoras de TV passam por um delicado momento de severa contenção de despesas, sobretudo porque vivenciamos uma drástica crise em nosso país, já histórica e tradicionalmente assolado por inúmeras mazelas sociais e, que pra piorar, ainda se tornou um celeiro de novas cepas da Covid 19.
Escolhi por vocação, jamais por mau gosto, duas profissões maravilhosas que sempre me trouxeram prazer e bons amigos: jornalismo e o magistério. Sim, eu disse prazer e bons amigos, pois dinheiro e valorização profissional, infelizmente passam bem ao largo disso. Em relação ao jornalismo esportivo, que é obviamente o foco dessa matéria, vou-lhes contar a partir de algumas experiências pessoais como é desfavorecido o nosso trabalho.
Em diversas situações, ao longo de minha trajetória profissional, conquistei tremendos furos. O furo de reportagem acontece quando o profissional consegue dar a notícia à frente dos concorrentes, mediante esforço, talento, fontes confiáveis e credibilidade.
Vou-lhes contar um caso engraçado e, ao mesmo tempo triste, envolvendo essa questão. Certa vez, estava presente a uma reunião de um conselho arbitral na Federação de Futebol do Rio de Janeiro, no saudoso tempo em que as reuniões eram franqueadas a nós, o que posteriormente foi arbitrariamente proibido pelo presidente. Estava eu, portanto, acomodado em meu confortável assento quando um representante de clube me viu, se achegou e me relatou uma grande novidade. Tratava-se de uma notícia inédita que ele havia lido um ou dois dias antes. O interessante era que se tratava justamente de um furo que eu havia conseguido e noticiado. Eu, então, lhe disse:
– Amigo, o que você acaba de me relatar que leu na imprensa esportiva se trata da matéria que eu apurei e escrevi no veículo tal.
Aí ele me disse, muito constrangido:
– É verdade, André, agora me lembrei. Me desculpe. Eu não reparei que tinha sido você a escrever.
Esse fato ilustra o quanto o jornalista esportivo vale menos do que a própria notícia. É hábito lermos os jornais e não prestarmos atenção acerca de quem é o autor.
Outro acontecimento envolvendo a minha função ilustra bem a desvalorização da nossa profissão. Há cerca de mais de uma década fui convidado para ser assessor de imprensa de um grande clube do Rio de Janeiro. O presidente da agremiação me chamou em sua sala e então se deu o seguinte diálogo:
– André, você gostaria de ser nosso assessor de imprensa?
– Claro que sim, presidente. Seria uma honra.
– Só que tem o seguinte. Não podemos te pagar. Se as coisas melhorarem, pode ser que consigamos um dia. De repente, a gente consegue fazer um bem bolado. Sabe como é, né? É preciso roer o osso pra depois comer a carne. Pelo menos você fica na vitrine.
– Mas, espera aí, presidente. O senhor não vai pagar os jogadores?
– Sim, é claro.
– Não vai pagar o treinador, preparador físico e o restante da comissão técnica?
– Sim, é lógico.
– Não vai pagar o médico, visto que ele é obrigatório nas partidas?
– Vou, claro.
– Não tem patrocínio das empresas tal e tal para as despesas?
– André, estou entendendo, e sei bem onde você quer chegar, mas aqui o assessor de imprensa é sempre o último da fila. Todos esses que você elencou são essenciais para o espetáculo. Mas pensa comigo. Se não tivermos um assessor de imprensa, o clube jogará da mesma forma. Sem jogadores, comissão técnica e médico o time nem entra em campo.
– Sinto muito, presidente. Eu entendo a sua situação, mas não posso trabalhar de graça. Aliás, nem seria de graça. Eu teria que literalmente pagar para trabalhar, pois existem despesas, tais como deslocamento, que ficariam sob meu encargo, fora a manutenção do meu equipamento. Não há condições.
Convites como esses foram costumeiros e, ainda são recorrentes, na minha carreira.
Enquanto trabalhava em reportagens de campo, me deparei com situações verdadeiramente bizarras. Certa feita, fui cobrir um jogo decisivo, válido por uma das divisões de acesso, numa cidade do interior fluminense. O time mandante atuava num estádio cuja estrutura era totalmente precária. As arquibancadas eram feitas de tábuas, que por estarem totalmente soltas, se encontravam interditadas. Portanto, o jogo teoricamente não poderia ter público. Porém, havia um morro atrás do campo e foi para lá que se dirigiram os torcedores para assistir ao cotejo. Por volta da metade do segundo tempo, revoltados com o placar desfavorável, a claque começou a soltar morteiros que quase acertaram a mim e a um dos bandeirinhas. Pra piorar a situação, a arbitragem ao final da partida, teve que passar pela turba enfurecida para chegar ao vestiário. Houve tumulto que por sorte não resultou em agressões, pois também não havia policiamento. Naquele tempo eu ainda não tinha a manha e a malícia do experiente profissional e noticiei tudo nos mínimos detalhes. Pra meu azar, o delegado da partida nada mencionou sobre o ocorrido, o que me deixou em palpos de aranha. No dia seguinte, portanto, recebi uma carinhosa mensagem de que se voltasse um dia àquela cidade algo de muito ruim aconteceria comigo. O presidente do clube era uma figura influente e, por acaso, estava ligado à máfia das máquinas caça-níqueis e outras coisinhas mais. Pra minha sorte, não demorou nem um mês, foi metralhado em uma emboscada provocada por um grupo rival, fato que provocou risadas nos meus colegas, que jocosamente me disseram, logicamente brincando, que fora eu que o tinha matado. Voltei outras duas vezes à mesma cidade, em diferentes ocasiões, e não tive qualquer problema.
Outra situação interessante aconteceu quando fiz uma reportagem de jogo na Baixada Fluminense. O local só era acessível mediante moto-táxi. Percebi que o desolado caminho que levava ao campo servia de cemitério de carros usados para desmanche. Ao chegar finalmente ao estádio, fui apresentado ao presidente, demais membros da agremiação e alguns torcedores. Ficamos eu, a arbitragem e algumas pessoas conversando quando ouvimos, de repente, dois caras a uma curta distância conversando e, então, um disse para o outro:
– Cara, quase matei mais um hoje!
Posso lhes informar com total conhecimento de causa, e sem medo de errar, que a maioria dos assessores de imprensa de times do Rio de Janeiro ou trabalha de graça ou fica sem receber seus módicos vencimentos devido a costumeiros atrasos de pagamento.
Meus caros leitores, vocês não imaginam como é árdua a vida do jornalista. De como trabalhamos com afinco, energia e muita vontade para trazermos a notícia para vocês.
Me causa asco, por exemplo, presenciar colegas de profissão serem agredidos nas ruas por vândalos que são verdadeiros fascistas, apenas por fazerem o seu trabalho. O fato de alguém não gostar de uma determinada emissora não fornece permissão, a quem quer que seja, para molestar repórteres, cinegrafistas ou contra-regras, trabalhadores, como qualquer um de nós, que estão nas ruas expostos e que precisam trazer diariamente o pão de cada dia para suas casas.
Esta é uma singela e triste homenagem a todos os jornalistas esportivos do nosso país. Somos verdadeiros heróis!