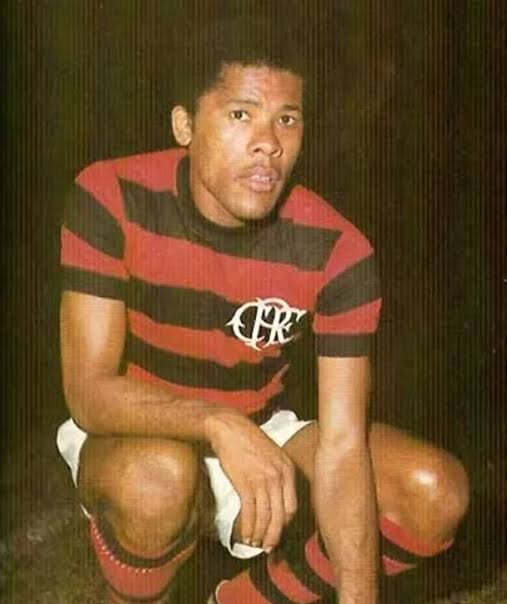Filho de um portuário e de uma dona de casa, Antônio José da Silva Filho nasceu naquele reduto holandês da cidade de Santo Amaro, Pernambuco, em 18 de maio de 1959. De origem humilde, desde cedo começou a enfrentar as adversidades que a vida colocava em seu caminho e vencê-las no peito e na raça.
Foi na raça que enfrentou a traumática separação dos pais. Teve que aprender a subir em árvores para apanhar mangas e cocos para sua mãe fazer bolos. O sustento da família vinha da venda desse alimento à base do carinho com que ele era feito por mãos encarquilhadas pelo tempo. Em dado momento, parou de subir nas árvores, não por ter melhorado de vida, mas porque sua mãe encontrou, em São Paulo, uma oportunidade para trabalhar e deixou ele, seus dois irmãos e uma irmã com a avó.
Tempos depois, aos 11 anos, morando em uma casa de palafita com o pai, a forma de sobrevivência foi a pesca de caranguejo. Muitas vezes ficava com a ponta dos dedos esfolados de tanto receber pinçadas deste crustáceo decápode. Ainda era o pequeno Antônio, até o dia em que seu pai subiu numa árvore para pegar o doce de uma fruta chamada Biri Biri. Ficou conhecido entre os amigos da região como Biri Biri.
Antônio, que parecia muito com o pai, logo herdou sua alcunha e passou a ser chamado de ‘Biri Biri Filho’, e depois com o tempo, passaram a chamá-lo de Biro Biro sem motivo aparente. Antônio agora tinha a raça como qualidade, e o Biro Biro como nome. Começou nas peladas e era sempre considerado o craque da turma. O desempenho logo o impulsionou a tentar jogar futebol em um time grande.
Na ‘peneira’ do Sport Recife foi aprovado. Passou a fazer parte do time, e numa partida amistosa contra a Seleção Brasileira de novos, seu desempenho surpreendeu até os ateus da bola. Foi então que a visão aguçada foi colocada à prova pelo presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Vicente Matheus, que quis contratá-lo, e mesmo com a alta pedida, não diminuiu o interesse em ter o garoto em seu time.
O Corinthians havia quebrado o jejum de 22 anos sem grandes conquistas com o título de 1977, e Vicente Matheus fazia constantes promessas à torcida de montar um grande time para buscar o bicampeonato.
Em 10 de agosto de 1978, o lendário ex-presidente mosqueteiro apresentou a segunda contratação do time que já havia trazido o desconhecido Sócrates, do Botafogo de Ribeirão Preto. E na entrevista coletiva à imprensa, Vicente Matheus soltou: “Eu falei que ia montar um time para brigar pelo título. Já trouxe o Sócrates e agora está chegando um garoto novo, que jogava em Recife. O nome dele é ‘Lero Lero’. Silêncio fúnebre. Cochichos de uns, burburinhos de outros. A verdade é que o futebol de Biro Biro não era ‘lero lero’, e três meses depois, o camisa 5 ganhou espaço no time.
Aplicado, Biro Biro tinha o costume de fazer mais exercícios do que o preparador físico exigia e gostava de ficar no campo depois dos treinos. Passou a voar em campo como se as chuteiras tivessem asas de gaviões.
Do primeiro título conquistado com a camisa do Timão, ao derrotar a Ponte Preta por 2 a 0 na final do Campeonato Paulista de 1979, ao último em 1988, quando era capitão: “Erguer a taça de campeão pelo Corinthians é uma emoção que não tem palavras para defini-la. Nunca senti algo igual”, disse emocionado, ciente de que havia conquistado o coração da Fiel torcida.
Quinto jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians – foram 589 partidas, com 265 vitórias, 199 empates e 125 derrotas. Em 11 anos de clube, Biro Biro disputou 11 títulos, chegou a sete finais e ganhou quatro: 1979, 1982, 1983 e 1988.
Notabilizou-se por ser, o pulmão do time e conquistou o coração dos torcedores, em especial, Luciana, sobrinha de Vicente Matheus, com quem mantém um amor eterno como o amor que ele tem pelo Corinthians.
O Vozes da Bola traz aos saudosistas torcedores uma entrevista com quem deixou sua alma em campo vestindo a camisa do time de maior torcida em São Paulo. É a vez daquele que faz aniversário nesta terça-feira (18) e marcou o coração dos corintianos com seu empenho, luta, raça e gols decisivos.
*Por Marcos Vinicius Cabral*
*Edição: Fabio Lacerda*
Como foi a infância do menino Antônio José da Silva Filho em Olinda, Pernambuco?
A minha infância foi em Recife e depois em Olinda, onde passei jogando aquelas peladas nos campeonatos que todo moleque disputa. Certa vez, um olheiro me viu jogando e acabou me levando para fazer teste no Sport. Mas a minha infância foi boa dentro dos padrões da nossa família, e apesar de não ser mil maravilhas, foi boa. Graças a Deus surgiu a oportunidade. Como eu falei de fazer o teste, fiz, fui aprovado, e a partir dali, a situação deslanchou.
Como se deu o início de sua carreira no Sport?
Foi tudo muito rápido! Após ser aprovado no teste que fiz no Sport, em seguida assinei o famoso contrato de gaveta, que nem existe mais, e acabei sendo integrado ao juvenil do clube. Daí, passei pela categoria júniores até chegar no profissional.
Descreva como aconteceu o interesse do Corinthians por você quando jogava no Sport? Lembra como recebeu a notícia do interesse do time do Parque São Jorge por você quando tinha 19 anos?
Se não me engano, eu estava treinando quando fiquei sabendo que o presidente Jarbas Guimarães queria falar comigo sobre o interesse de um clube de São Paulo na minha contratação e que era para eu arrumar minhas coisas e viajar no dia seguinte. Em princípio, relutei muito, pois o meu objetivo era ficar no Leão, mas o presidente foi na minha casa e tratou com meu pai essa viagem. No dia seguinte, viajei com o presidente e um advogado do Sport sem saber qual era o time que me contrataria. Ficamos hospedados em um hotel e fiquei preso quatro dias no quarto sabendo que seria contratado por um time de São Paulo, mas não sabia qual. Depois me contaram que vários clubes estavam interessados na minha contratação e fiquei pensando quem seria. Até que o presidente do Corinthians, Vicente Matheus, chegou lá e se reuniu com o presidente do Sport, Jarbas Guimarães, e ficou acertada minha contratação. Imediatamente, comunicaram a imprensa através de uma coletiva anunciando minha chegada ao Parque São Jorge.
Em 1978, ao ser contratado pelo Corinthians, o presidente Vicente Matheus deu uma declaração engraçada à imprensa ao dizer que teria contratado um tal de ‘Lero Lero’. Como foi essa situação, Biro Biro?
Foi engraçado essa história do presidente quando ele reuniu a imprensa e falou: “Contratei o novo reforço para o Corinthians, que é o Lero Lero! O pessoal, sem entender nada, achou estranho. Um repórter não se conteve e perguntou: “Ué, ‘seu’ Vicente Matheus, não é Biro Biro, o nome do jogador”? Ele olhou para o repórter e disse: “Olha, na verdade, Biro Biro e Lero Lero, são as mesmas coisas. Assim esta história ficou famosa e hilária (risos).
O Corinthians ficou 22 anos sem títulos. Em 1977, o jejum foi quebrado com o gol do Basílio. E dois anos depois, você conquistou o Paulistão pela primeira vez em menos de dois anos no Corinthians. Sua adaptação foi menos difícil pelo fato do clube viver dias aliviados pela quebra do tabu de mais de duas décadas sem título regional?
Isso ajudou e muito. O Corinthians estava no sufoco e muitos anos sem ganhar. De repente, o título veio em 1977. É lógico que as coisas melhoram. O torcedor passa a ficar mais confiante, os companheiros acreditam mais e o ambiente se torna mais leve, pois assim é o futebol. Eu lembro que cheguei no final de 1978 e, em seguida, conseguimos o título de 1979. Eu acho que dali para frente o Corinthians começou a disputar os títulos. Muito se deve a importância da conquista do título do Campeonato Paulista de 1979.
Dos quatro títulos do Campeonato Paulista conquistados por você, dois foram contra times de Campinas e dois sobre o São Paulo quando o Corinthians foi bicampeão em 1982 e 1983. Qual teve um gosto mais especial embora todos tenham sido importantes para você?
Todos os títulos são importantes sem exceção. Mas o título que mais me marcou foi aquele em 79. Fiz um gol de canela contra o Palmeira na semifinal.
Antes de você chegar ao Parque São Jorge, o último bicampeonato paulista do Corinthians foi em 1951/1952. É motivo de orgulho para você ter quebrado este jejum de bicampeonato com dois títulos consecutivos contra o São Paulo sendo que você marcou dois gols na decisão de 1982, algo raríssimo para um volante?
Rapaz, nem fale. Sem dúvida. É raro um volante fazer dois gols numa final e quando isso acontece sempre marca, né? Mas foi uma das maiores alegrias no Timão ter sido campeão. Além disso, marcando os gols. Inesquecível para mim.
Seu conterrâneo Givanildo foi campeão em 1977. Existe alguma relação com sua chegada em 1978 ao Corinthians?
Não! Nenhuma. Quando cheguei no Corinthians, o Givanildo havia saído e tinha também o Luciano, que era do Santa Cruz. Mas na verdade, nem jogar com eles eu cheguei a jogar.
Além de ter conquistado títulos estaduais pelo Corinthians, você participou com maestria do famoso time chamado ‘Democracia Corintiana’ que era um posicionamento político que clamava por voto direto. Como foi esta relação que mostrava um Corinthians em ascensão e a participação na política do país?
Foi um movimento importante, não só para o Corinthians, que aderiu o ato que acabou se tornando histórico, mas para o Brasil. Nós, jogadores, não esperávamos pela proporção que o movimento tomou, pois não nos preocupávamos. Essa é a verdade. Mas a ‘Democracia Corinthiana’ foi importante, fez o Brasil mudar e até hoje é lembrada e considerada um movimento de grande importância para todos. Eu me orgulho de ser parte viva deste momento na história do país.
Você é o quinto jogador da história de 110 anos do Corinthians a vestir mais vezes a camisa do clube, e o volante com o maior número de gols (75). Acha que algum jogador da sua posição, no futebol atual, pode superar sua marca, jogando no Timão?
Difícil. Algum volante chegar a números tão expressivos como os que tive no Parque São Jorge? Sei não, mas vamos ver. O Paulinho poderia chegar, e certa vez, o Elias brincou dizendo que chegaria aos gols que fiz, mas ele estava com 32 anos. Mas o futebol mudou muito, e hoje um jogador de meio de campo marcar tantos gols por um clube é tarefa muito difícil.
Você jogou por dez anos no Corinthians atuando 590 vezes, uma média de 59 partidas por ano, que é um número alto de atuações. Estes dados são demonstrações que você não sofria com lesões?
Era difícil eu me machucar mesmo e jogava todas as partidas do campeonato. Se eu ficasse fora de algum jogo era por causa de cartões amarelos que eu levava, mas era difícil também eu ser advertido. Lembro, inclusive, que é legal você abordar na entrevista, que eu vim a ser expulso no Corinthians após 10 anos jogando, ou seja, numa posição de marcador. Isso é um fato curioso e merece ser divulgado. E vou ser síncero! Acho até que os torcedores gostavam de mim por causa disso, pelo fato de não frequentar o Departamento Médico. Eu mantinha uma regularidade em campo sem expulsões e sempre aplicado, mostrando a raça que a torcida gostava.
Na carreira do Biro Biro faltou vestir a camisa da Seleção Brasileira? E se tivesse que ser convocado, qual ano acredita que poderia ter sido chamado? Você poderia ter jogado uma Copa do Mundo, como a de 1982 ou 1986?
Olha, na Seleção Brasileira eu fui convocado e fiquei entre os 25 jogadores que foram com o Telê Santana em 1982 e 1986 também. Mas lembro que na Copa do México, o treinador era o Rubens Minelli, e em cima da hora, mudou o comando. O Telê aceitou o convite para dirigir a Seleção. E mais uma vez acabou me deixando fora, mas pelo menos fui lembrado, o que foi muito significativo para mim. Já na Copa da Itália em 1990, apesar de estar cotado para fazer parte do plantel, acabei tendo uma fratura na tíbia jogando pela Portuguesa e levei 240 dias me recuperando. Isso me atrapalhou muito. Mas seleção é isso, é questão de momento. Cada treinador tem os seus jogadores de confiança e foi o que o Telê fez em 1982, na Espanha, e em 1986, no México, e acabou me deixando de fora.
Qual foi o melhor meio-campo do futebol brasileiro na sua opinião?
Essa faixa do campo é privilegiada por ter tantos jogadores bons de bola. O nosso futebol brasileiro é rico em jogadores técnicos e habilidosos, e o meio de campo de cada time, é o setor em que o jogo é ditado. É por ali que a bola passa, é trabalhada, e é por ali que saem as principais jogadas ofensivas. Tivemos muitos meios de campo inesquecíveis, talentosos e insuperáveis, mas Biro Biro, Sócrates e Zenon, para mim, marcou não só o Corinthians, mas o futebol brasileiro.
Escale o Corinthians de todos os tempos na sua opinião?
Cada time jogou um futebol que marcou época para o torcedor. Mas na história no Corinthians é impossível não falar do time da ‘Democracia Corinthiana’ que era uma equipe muito boa, que se encontrava em campo. Os jogadores sabiam o que queriam, jogavam para frente e praticavam um futebol objetivo em busca do resultado. Eu colocaria esse time como sendo o de todos os tempos. Obviamente, outros jogadores de outras equipes que vestiram a camisa do Timão, eu poderia incluir nesse time. Mas o time da ‘Democracia Corinthiana’ foi, na minha opinião, o melhor de todos os tempos.
Na sua opinião, qual foi o melhor técnico com quem você trabalhou?
Eu trabalhei com vários treinadores bons e que me ensinaram muito como o Osvaldo Brandão e o Rubens Minelli, por exemplo. Mas o melhor deles todos foi o Mário Travaglini. Com ele, eu tive a oportunidade de absorver seus conhecimentos e foi ele que conseguiu extrair o melhor de mim dentro de campo.
Como surgiu o apelido Biro Biro?
Essa história é curiosa e engraçada ao mesmo tempo. Antes de jogar as ‘peladinhas’ em Recife, meu pai gostava de subir nas árvores e comer uma fruta chamada biribiri, que na aparência externa lembra mais um pepino e no sabor, um limão, de tão azeda. O pessoal começou a associar esse fruta ao meu pai porque eles ficavam pedindo para ele descer da árvore para jogar. Entretanto, de tanto falar biribiri para lá e biribiri para cá, acabaram errando a pronúncia e chamaram Biro Biro. E como acabou passando de pai para filho, o apelido surgiu dessa forma.
Depois que saiu do Corinthians, você vestiu as camisas da Portuguesa, Coritiba, Guarani e Paulista. Como foram essas passagens?
Claro que o Corinthians me marcou por tratar de um gigante do futebol brasileiro, e o Sport, por onde eu comecei, mas minha passagens por esses clubes foram com profissionalismo, dedicação, amor à camisa, à torcida, e a consciência de que me doei ao máximo nessas equipes. Foram experiências bem legais.
Biro Biro, você também foi bicampeão (1993/1994) estadual pelo Remo. Fale um pouco da sua experiência no futebol paraense, do gol feito no clássico contra o Paysandu e a queda do muro do estádio da Curuzu no dia 29 de julho de 1993. Você fez parte de uma equipe nortista melhor colocada na série A do Brasileiro.
Verdade. Minha passagem pelo Remo foi muito boa, foi legal. A gente tinha uma boa equipe que o remista não esquece até hoje. Este time foi campeão invicto, e esse gol marcou muito, pois além de derrubar o muro do estádio da Curuzu, até hoje esse gol é festejado por diversos motivos. No entanto, mais importante que a vitória no clássico contra o Paysandu, e a queda daquele muro, foi a nossa campanha naquela edição do Campeonato Brasileiro. Inesquecível.
Se você fosse o técnico da Seleção Brasileira no lugar do Tite, quais seriam seus dois volantes titulares?
O Paulinho teve uma passagem boa na seleção brasileira, merece que o seu futebol seja olhado com carinho, mas acho que o momento é do Casemiro e do Fernandinho.
Quem foi o meia-atacante mais difícil que você marcou na sua carreira?
Poxa, foram vários craques difíceis de serem marcados, mas o Zico mereceu sempre uma atenção especial. O Zico era o jogador que você tinha que vigiá-lo 90 minutos do jogo. Bastava um descuido, um piscar de olhos, para complicar tudo.
Qual volante inspirou sua carreira?
Foram dois. O Clodoaldo, do Santos, e o Falcão, do Internacional. O Clodoaldo eu vi pouco, confesso, mas o Falcão, como eu adorava vê-lo em campo, observar o seu estilo, admirar a classe, a elegância com que desfilava no gramado. E a habilidade? Meu Deus, que coisa fantástica! Vou confessar uma coisa aqui: eu pedia aos treinadores para jogar com a camisa 5 em homenagem ao Falcão.
Como tem enfrentado esse isolamento social?
Estou enclausurado como forma de prevenção. Estou me cuidando com álcool em gel, máscara, distanciamento e sabendo que não pode vacilar com esse vírus. Só saio em extrema necessidade. Quando estou em Guarujá, tenho saído um pouco mais, porém, apenas para caminhar ou fazer uma corrida de leve. Cuidem-se sempre!
Defina Biro Biro em uma única palavra?
Definir Biro Biro em uma única palavra? Só pode ser raça.